UM APENSO DE OUTROS TRILHOS DE HISTÓRIA DA ILHA DE SANTO ANTÃO QUE ACRESCENTAM VALOR AOS EXCURSOS DO MEU FILOSOFAR TELÚRICO (I): Pedras que falam pela idade e são capazes de nos provocar água na boca.
"Boas histórias, ques pedras tem dod gente uns camuquinhas de quel bom, la na terrer e ne Fajã, graças a eterna Didita e Maria Senhorinha, e sem falar na um Papa de rolon e uns banana de Fongo que nos la na casa ene dava gosta mut…"
(face@miga Bety Fortes)
“Papa d mi rolod, inda més se for k bóbra, k lete d'cabra ê deliciosooo!”
(face@miga Marlene da Graça)
“Mim jam kme cold de pes ke papa de mi rolom el e um omor se bzot en seb pergunta kes gent mes entig”.
(face@migo Antero Monteiro)
C@ros leitores,
Começo este artigo citando em epígrafe parte de comentários de três @migos meus, feitos a volta de um "post" que publiquei na "face", onde escrevi algumas "coisas" sobre as minhas memórias e vivências da infância com histórias da pedra d’rala, um utensílio doméstico (público e privado) outrora utilizado como ferramenta na moagem do milho em Santo Antão e outras ilhas do arquipélago, cuja remanescência de alguns exemplares ainda existe na minha localidade - Ribeira da Torre.
Com esta primitiva máquina de "pedra sobre pedra" produzia-se a farinha de milho a partir da qual se confeciona a famosa papa d’mi rolom, um prato típico da culinária tradicional cabo-verdiana, chamado pelos mais velhos da minha comunidade "qentiga d'rotcha ê quê te ne morada". Pois, era, o milho, em muitos casos, o pão nosso de cada dia, o único alimento presente em todos os lares, seja no campo ou na cidade. Contudo, houve tempos em que por causa da falta do milho, isto é, durante os períodos mais difíceis marcados pelas secas e fomes cíclicas, os santantonenses "Para comer, descobrem [entre tantas coisas como sola de sapato, tronco de bananeira...] raízes de árvores que esporadicamente aparecem, sustentando-se disso e saciando a sede com o pequeno suco também extraído das raízes" (Fernandes, 1998, p. 30 grifo meu).
Para conhecer melhor a génese dos utensílios de pedra que viriam mais tarde evoluir para a nossa famosa pedra d'rala, temos de nos "ancorar no porto seguro" da história da civilização ocidental e "mergulhar nas águas profundas" do passado da humanidade. E ciente desta condição, tomaria como referencial teórico o historiador Edward McNall Burns (s.d., p. 18) para dizer que a história humana inteira pode ser dividida em dois períodos, a "Idade da Pedra" e a "Idade dos Metais". A primeira é às vezes denominada "Idade Pré-Literária", ou seja, o período anterior à invenção da escrita. A segunda coincide com o "período da história" baseada em "registos escritos". E pelo que atesta o autor supramencionado,
A Idade Pré-Literária cobre pelo menos 95 por cento da existência humana e não termina senão nas proximidades do ano 3000 a.C. A Idade dos Metais é praticamente sinónima da história das nações civilizadas. A Idade da Pedra subdivide-se em Paleolítico (antiga idade da pedra) e Neolítico (nova idade da pedra). Cada uma delas recebe o nome do tipo de armas e utensílios de pedra caracteristicamente fabricados durante o período. Assim, durante a maior parte do Paleolítico era comum afeiçoar os instrumentos retirando lascas de uma pederneira ou outra pedra e conservando o núcleo restante, que se usava como "machado manual". Na fase terminal do período, eram as próprias lascas que se usavam como facas ou pontas de lança, rejeitando-se o núcleo. O Neolítico viu os instrumentos de pedra lascada ceder o passo aos instrumentos feitos de pedra desgastada pelo atrito e polidas. (Burns, s.d., p. 18)
Assim dotado da capacidade de raciocínio, que o diferenciou desde logo dos primatas, o homem já na "Idade Pré-Literária", iniciou uma viagem pela invenção tecnológica que demonstrou a sua habilidade de utilizar os elementos que a Natureza lhe oferecia, dos quais se destaca a pedra, em seu próprio benefício. O uso da pedra que acompanhou a evolução do homem se traduziu, durante a época paleolítica, na produção de utensílios em pedra lascada, destinados a cortar, raspar, partir, furar, entre várias outras funções.
 Imagem 1 - Ilustração de um homem primitivo desnudo agachado à beira de um rio segurando em cada mão lascas grandes de pedregulhos, como se estivesse pronto a desgasta-las. Fonte: http://iriscordemelad.blogspot.com/2016_05_01_archive.html
Imagem 1 - Ilustração de um homem primitivo desnudo agachado à beira de um rio segurando em cada mão lascas grandes de pedregulhos, como se estivesse pronto a desgasta-las. Fonte: http://iriscordemelad.blogspot.com/2016_05_01_archive.html
Na verdade, para o homem primitivo eram bons tempos aqueles quando as pedras estavam lascadas porque a invenção da pedra lascada "abriu novos caminhos para a sobrevivência da espécie" (Rodrigues, p. 28). Vejamos o exemplar que segue em baixo:
 Imagem 2 - Ferramenta de corte de Olduvai, utensílio encontrado na
garganta de Olduvai, Tanzânia 1,8-2 Milhões de Anos. Fonte: Neil MacGregor (2013). A História do Mundo em 100 Objetos. Rio de
Janeiro: Intrínseca. p. 34.
Imagem 2 - Ferramenta de corte de Olduvai, utensílio encontrado na
garganta de Olduvai, Tanzânia 1,8-2 Milhões de Anos. Fonte: Neil MacGregor (2013). A História do Mundo em 100 Objetos. Rio de
Janeiro: Intrínseca. p. 34.
Segundo MacGregor (2013, p. 34) esta ferramenta em pedra lascada, encontrada na Tanzânia (Leste da África) foi o "começo de tudo" porque é a "origem da caixa de ferramentas". Mas, esta pedra lascada não é uma ferramenta qualquer porque marca o momento em que nos tornamos distintamente mais espertos, movidos por um impulso não só de fazer coisas, mas também de imaginar como “melhorar” as coisas. Aquelas lascas extras no gume da ferramenta de corte revelam que, desde o início, nós – ao contrário de outros animais – sentimos o desejo de fazer coisas mais sofisticadas do que o necessário. Objetos transmitem poderosas mensagens sobre quem os produz, e a ferramenta de corte é o começo de uma relação entre os seres humanos e as coisas que criaram, o que é tanto um caso de amor quanto uma dependência. A partir do momento em que nossos ancestrais começaram a fabricar ferramentas como esta, ficou impossível para as pessoas sobreviver sem os objetos que produzem; nesse sentido, fabricar coisas é o que nos torna humanos. As descobertas relacionadas com esta ferramenta na Tanzânia, tiveram como resultado mais do que simplesmente obrigar os humanos a recuar no tempo: deixaram claro que todos nós descendemos desses ancestrais africanos e que cada um de nós é parte de uma gigantesca diáspora africana – " todos trazemos a África no DNA e todas as nossas culturas começaram ali", mais concretamente na Tanzânia (Leste da África).
 Imagem 3 - Mapa de África onde vemos sinalizado , no pormenor ao lado, a garganta Olduvai na Tanzânia (Leste de África). Fonte: http://www.historialia.com/detalle/57/homo-habilis-garganta-olduvai-tanzania
Imagem 3 - Mapa de África onde vemos sinalizado , no pormenor ao lado, a garganta Olduvai na Tanzânia (Leste de África). Fonte: http://www.historialia.com/detalle/57/homo-habilis-garganta-olduvai-tanzania
O arqueólogo David Attenborough citado em MacGregor (2013) assevera que este utensílio talhado em pedra lascada e encontrado na garganta de Olduvai, na Tanzânia, há aproximadamente 1,8-2 Milhões de Anos,
... está na base de um processo que se tornou quase obsessivo entre os seres humanos. É algo criado a partir de uma substância natural com um propósito específico, e, de certa maneira, quem fez o objeto tinha uma noção de por que precisava dele. É mais complexo do que o necessário para desempenhar a função na qual foi usado? Acho que se pode quase dizer que sim. Ele precisava mesmo tirar uma, duas, três, quatro, cinco lascas de um lado e três do outro? Não bastariam duas? Acho que sim. Acho que o homem ou a mulher que segurou isto o fez apenas para um trabalho específico e talvez sentisse alguma satisfação em saber que aquilo cumpriria sua tarefa com grande eficácia, economia e ordem. Com o passar do tempo, se poderia dizer que ele passou a fazê-lo de forma primorosa, mas talvez ainda não. Era o começo de uma jornada. (Attenborough ap. Macgregor, 2013, p. 36)
O percurso dessa jornada, como já vimos no princípio deste artigo, tem como último estágio o período Neolítico, também denominado por "nova idade da pedra". Esta denominação porque os objetos de pedra utilizados como ferramentas passaram a ser feitos pelo método do polimento, mediante o atrito, ao invés da fratura e separação de lascas, como se fazia no estágio anterior. Pensamos que a ferramenta na imagem em baixo é esclarecedora.
 Imagem 4 - Machadinha de Olduvai Ferramenta encontrada na garganta de Olduvai, Tanzânia (Leste da África), há 1,2-1,4 Milhões de Anos. Fonte: Neil MacGregor (2013). A História do Mundo em 100 Objetos. Rio de Janeiro: Intrínseca. p. 39.
Imagem 4 - Machadinha de Olduvai Ferramenta encontrada na garganta de Olduvai, Tanzânia (Leste da África), há 1,2-1,4 Milhões de Anos. Fonte: Neil MacGregor (2013). A História do Mundo em 100 Objetos. Rio de Janeiro: Intrínseca. p. 39.
Esta machadinha é bem diferente das ferramentas de corte produzidas a partir das lascas de pedra do Paleolítico, porque não é um objeto simples de produzir. É resultado de experiência, planejamento cuidadoso e habilidade adquirida e refinada durante um longo período. Esta ferramenta de pedra polida é:
Tão importante para a nossa história quanto a grande destreza manual necessária para fazer este instrumento de corte é o salto conceptual exigido: a capacidade de imaginar num bruto bloco de pedra a forma que se quer produzir, assim como o escultor de hoje vê a estátua que aguarda dentro do bloco de pedra. Este particular pedaço de suprema pedra high-tech [...] veio de uma camada geológica mais recente do que a ferramenta de corte, feita centenas de milhares de anos antes, e há um imenso salto entre aqueles primeiros utensílios de pedra e esta machadinha. É aqui que encontramos as origens reais dos humanos modernos. Nós reconheceríamos alguém igual a nós em quem a fez. (MacGregor, 2013, p. 40)
Esta ferramenta é prova de que o Neolítico viu os instrumentos de pedra lascada ceder o passo aos instrumentos feitos de pedra desgastada pelo atrito e polidas. Sobre os avanços tecnológicos desse estágio assinala-se que:
A muitos respeitos, a nova idade da pedra foi a era mais importante na história do mundo até então. O nível do progresso material atingiu novas alturas. O homem neolítico exercia maior domínio sobre o meio do que qualquer dos seus predecessores. Tinha menos probabilidades de perecer devido a uma mudança das condições climáticas ou porque viesse a falhar uma parte dos seus recursos alimentares. Essa decisiva vantagem resultou, sobretudo, do desenvolvimento da agricultura. Enquanto todos os homens que viveram anteriormente eram coletores, o homem neolítico era produtor de alimentos. (Burns, S.d., p. 29)
Ainda, com a descoberta da agricultura também nesse estágio o homem iniciou um novo processo de produção de utensílios, assim como o processo de transformação do seus alimentos. Passou a utilizar mais tipos de pedras, como o sílex e o polimento, como nova técnica de produção. Como essas novas atividades requeriam novos utensílios, surgiram, neste contexto, instrumentos mais capazes e adaptados a novas práticas, como a lâmina para as foices de corte, a enxó de pedra para cultivar a terra e os moinhos manuais para moagem dos cereais.
Assim, conhece-se, desse tempo a “mó de rebolo” ou “mó de vaivém”, constituída por duas pedras (mós), uma dormente (pouso) e outra movente (volante). Como o próprio nome deixa transparecer, o movimento de rebolo e vaivém da movente ou volante sobre o cereal (milho e outros grãos) que se encontrava na mó dormente ou pouso, transformava-o num novo produto, a farinha, que para ser obtida, ele passou a triturar os grãos com duas pedras lisas, uma maior e fixa; outra menor e móvel, a qual foi-se aperfeiçoando aos poucos.
Estava-se na pré-história da agricultura e era este o processo usado no Egito e o resto do "Crescente Fértil" (território que se estende das planícies aluviais do Nilo, continuando pela margem leste do Mediterrâneo, em torno do norte do deserto sírio e através da Península Arábica e da Mesopotâmia, até o Golfo Pérsico) há muitos milhares de anos.
 Imagem 5 - Estatueta egípcia da dinastia III fazendo a representação de uma mulher nas lides domésticas da moagem de cerais utilizando a mó de rebolo, um exemplar africano arcaizante da pedra d'rala. Fonte: Morgan (1896). Recherches sur les origines de l'Egipte. Paris: s/ed. p. 144.
Imagem 5 - Estatueta egípcia da dinastia III fazendo a representação de uma mulher nas lides domésticas da moagem de cerais utilizando a mó de rebolo, um exemplar africano arcaizante da pedra d'rala. Fonte: Morgan (1896). Recherches sur les origines de l'Egipte. Paris: s/ed. p. 144.
Se é coerente afirmar que a ferramenta de pedra lascada encontrada em Olduvai é o "começo de tudo" e a "origem da caixa de ferramentas" e que, igualmente, a machadinha, também de Olduvai, reflete a "capacidade de imaginação" do homem (Macgregor, 2013), não é mera retórica nossa dizer, citando as palavras do eclético (historiador, filólogo, teólogo, filósofo, escritor…) francês, Joseph Ernest Renan (1823-1892), que “Um mundo sem ciência é escravatura, o mundo fazendo girar a mó, submetido à matéria, equiparando à besta de carga". Portanto, a invenção da mó de rebolo é o começo de uma nova arte e técnica (ciência) que veio libertar o homem do cansaço desse trabalho árduo e fastidioso de transformação dos grãos...
Mó, mais concretamente, um moedor de pedra de origem neolítica, constituído por duas pedras sobrepostas, é denominado “mó de rebolo” ou “mó de vaivém” e vulgo, nestas bandas (ilha de Santo Antão), como já dissemos, “pedra d’rala”. Trata-se de um utensílio doméstico acionado diretamente à mão por mulheres e homens desta ilha na moagem do milho (cru ou torrado) para fazer farinha ou camoca, como se pode ver na foto em baixo.
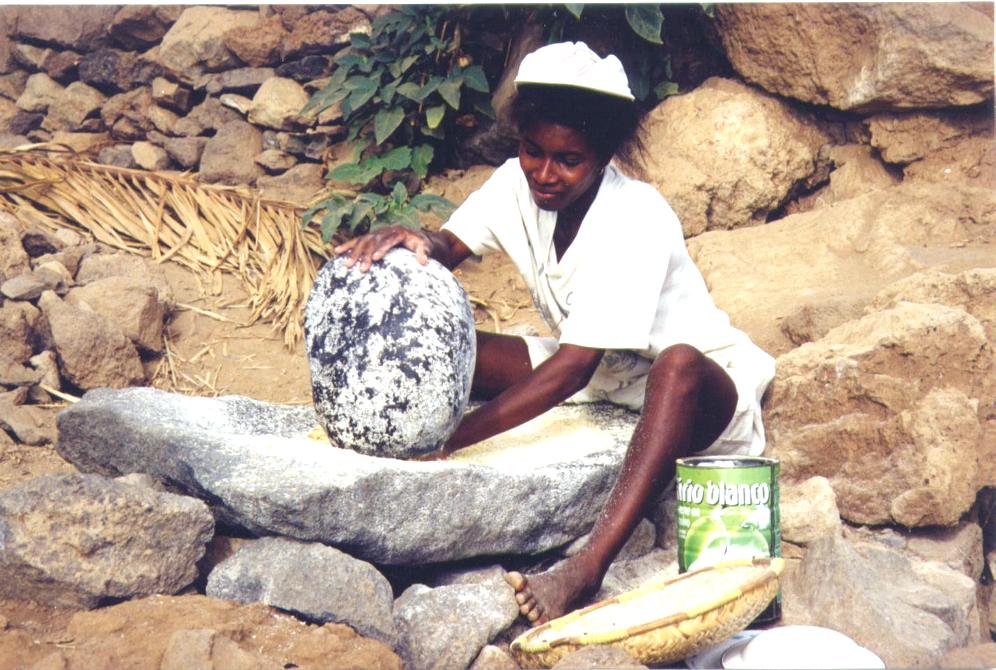 Imagem 6 - Uma jovem mulher de Santo Antão (Tarrafal de Monte Trigo) moendo milho na pedra d'rala, onde ao lado vê a bandeja, outro utensílio doméstico tradicional usado nesta ilha durante o ciclo de transformação do milho. Fonte: www.mindelo.info
Imagem 6 - Uma jovem mulher de Santo Antão (Tarrafal de Monte Trigo) moendo milho na pedra d'rala, onde ao lado vê a bandeja, outro utensílio doméstico tradicional usado nesta ilha durante o ciclo de transformação do milho. Fonte: www.mindelo.info
Sobre o formato e a história dessa primitiva máquina de pedra em solo cabo-verdiano, escreveu o antropólogo cabo-verdiano João Lopes Filho (1997) em seu Corpo e Pão – o vestuário e o regime alimentar cabo-verdianos, o seguinte:
“Consta de uma laje larga e um tanto côncava, sobre a qual espalham o milho para ser triturado por uma outra padra de formato ovalóide, num movimento de vaivém sobre a primeira (tanto uma como a outra terão de ser pedras rijas). Trata-se de um instrumento pré-histórico destinado a esmigalhar ou moer os grãos e […] é […] muito mais primitivo, de tipo das mais antigas mós neolíticas, que entre nós se encontra ainda no espólio arcaizante de alguns castros não romanizados, mas na África Ocidental, continua em uso em alguns lugares, como testemunha o facto de ela ter sido encontrada entre os Bochimanes de Angola onde, «para triturar frutos e sementes, alguns grupos utilizam igualmente uma pedra achatada a servir de mó de rebolo». Alguns autores sustentam, ainda, que este utensílio teria sido introduzido em Cabo Verde a partir das Canárias, onde já existia” (pp. 217-218).
 Imagem 7 - Imagem (Desenho) de duas pedras pré-romanas sobrepostas em forma de mó de rebolo (cavado) existente no Museu Etnológico de Portugal. Esboço feito pelo Desenhador F. Valença.
Imagem 7 - Imagem (Desenho) de duas pedras pré-romanas sobrepostas em forma de mó de rebolo (cavado) existente no Museu Etnológico de Portugal. Esboço feito pelo Desenhador F. Valença.
Contudo, uma fonte primária acedida online, nos dá conta que já "os antepassados dos portugueses empregavam pedras" desse tipo ou quase parecidas com a nossa pedra d'rala, como se pode ver na imagem 7. De acordo como o autor desta fonte, essa ferramenta era utilizada na "moagem de cereais ou outras substâncias que servissem para o fabrico de pães e bolos". E crendo na autenticidade dessa fonte, então é pouco provável que o costume do uso da pedra d’rala tenha sido introduzido em Cabo Verde, a partir das ilhas Canárias como deixam transparecer os autores lidos por João Lopes Filho (1997).
Em Santo antão é muito mais provável que a sua introdução, tenha sido feita nos primórdios da fixação do homem no espaço desta ilha. Estou falando de homens como os portugueses e afro-negros, mais concretamente, os algarvios e os escravos já "ladinizados" ou mesmo libertos, importados pelos colonizadores a partir de Santiago para trabalharem na atividade agrícola, a contar, mais concretamente, a partir do século XVII, um tempo histórico extremamente jovem para a idade muito recuada dessa pedra, um utensílio neolítico (pré-história).
 Imagem 8 - Fotografia feita por mim à Nhá Titina de Sérgio e sua pedra d'rala na Zona de Cruz de Cima, no Alto da Ribeira da Torre - Novembro de 2016
Imagem 8 - Fotografia feita por mim à Nhá Titina de Sérgio e sua pedra d'rala na Zona de Cruz de Cima, no Alto da Ribeira da Torre - Novembro de 2016
Quanto às suas localizações no vale da Ribeira da Torre, fiz um pequeno levantamento, tendo contabilizado, só num pequeno périplo às zonas circum-adjacentes ao Top d'Mranda, a majestosa torre de pedra que é a nossa imagem de marca, como se pode ver pela trajetória tracejado à vermelho, do alto da Penha de França à zona de Ladeirinha, 10 pedras d'rala: Penha de França (duas); Selada de Ribeirinha de Jorge (três); Varzinha (uma); Cabouco de Polingrina (uma); Cruz de Cima (uma) e Ladeirinha (duas). As confiram na imagem que se segue em baixo.
 Imagem 9 - Imagem do Vale da Ribeira da Torre e sua imponente Top d'Mranda em cuja volta ainda encontramos alguns exemplares inoperacionais da pedra d'rala (exceto a pedra da imagem 6). Fonte: Manuel Nascimento, em http://asemana.sapo.cv/spip.php?article83031 (Adaptado)
Imagem 9 - Imagem do Vale da Ribeira da Torre e sua imponente Top d'Mranda em cuja volta ainda encontramos alguns exemplares inoperacionais da pedra d'rala (exceto a pedra da imagem 6). Fonte: Manuel Nascimento, em http://asemana.sapo.cv/spip.php?article83031 (Adaptado)
Quantas pedras d'rala em tantas outras ribeiras e lombos (zonas rurais) dos três concelhos da nossa a ilha, podemos ainda encontrar? Crê-se que várias! E se tivéssemos que fazer um levantamento e respetivas sinalizações das mesmas, andando a ilha de Santo Antão de lés a lés, iriamos encontra-las aos montes e, de certeza, constatar, in loco, que algumas delas até agora se operam, ou seja, as pessoas mais antigas ainda conservam o costume do seu uso para moerem prentém (milho torrado) e produzirem a famosa camoca de milho avermelhado oriundo da Argentina, milho este chamado lá para as bandas de Altomira por "mi d'Jon" ou em Ponta do Sol por "mi d'Mria Russa", mas na minha localidade (Ribeirinha de Jorge) por "mi sénguinha". Olhem que este cereal torrado e moído dá "um cmuquinha" de fazer água na boca! Outrossim, dizem que se administrado como ramed d'terra contribui para a cura da anemia...
 Imagem 10 - Foto feito por mim ao Martim de Ti Xiquinha simulando ralar milho na pedra d'rala pertencente à sua falcida mãe, no Lombo da Penha de França, Ribeirinha de Jorge, Ribeira da Torre - Novembro de 2016
Imagem 10 - Foto feito por mim ao Martim de Ti Xiquinha simulando ralar milho na pedra d'rala pertencente à sua falcida mãe, no Lombo da Penha de França, Ribeirinha de Jorge, Ribeira da Torre - Novembro de 2016
Havia outrora várias protótipos de pedra d'rala nesta ilha e dizem que os seus usos eram frequentes, por se tratar de uma ilha essencialmente agrícola e onde o milho era a principal cultura e a base da dieta do povo, quer no campo ou na cidade. Em tempos de carestia de comida devido as secas e fomes, o seu uso era mais intenso. O motivo é que as pessoas não tendo mais nada que comer a não ser milho que dera à praia mercê aos encalhamentos de alguns navios estrangeiros nas nossas encostas, por exemplo Maria Cristina, vulgo ‘Maria Russa’ (encalhado na Ponta do Sol, 1919) e John Schmeltzer encalhado na Praia Formosa, 1947). Abrindo um curto parêntese sobre esses dois fatos históricos locais, para confirmar a veracidade das suas ocorrências, lê-se em Fernandes (1998) o seguinte:
Aos 17 de Março de 1919, por volta das 11 horas da manhã, foi encalhada na Baixo do Cavalo para uns, Baixinho de Nha Mri Juninha para outros, aproximadamente a um quilómetro de distância donde se situava o antigo farol da Ponta do Sol, o navio cargueiro "Maria Cristina" chamado 'Maria Russa' pelos solpontenses, nome que ficou conhecido na história de Santo Antão. [...] «Maria Russa» estava carregado de milho e vinha da Argentina para a Grécia. Poucos dias depois era a 'móia'... Durante quase três dezenas de anos, o barco passou a ser «o pão nosso de cada dia» para muito boa gente (ponto de ração para a caldeira dos mais pobres) [...].
Era nos anos mil novecentos e quarenta e sete, a vinte e cinco de Novembro, quando o navio John Schmeltzer de nacionalidade americana (carregado de mantimentos como milho, sêmeas e sementes de girassol, provenientes da América do Sul) se afundou. Ao passar por Cabo Verde, necessariamente na zona de Barlavento, uma forte bruma dificultou a navegação, tendo o barco encalhado no sitio da 'Canjana' lá para os lados da Praia Formosa, Ilha de Santo Antão. Foi assim que a procissão de pessoas de todas os cantos da Ilha ia chegando, noite e dia. Muita gente se safou da fome. Mas muitas pessoas morreram ao se atirar ao mar sem saber nada, tentando recolher esses produtos. A informação que se tinha era a de que dos restos mortais, só vinham à superfície porções de fezes, sinal evidente do seu trágico desaparecimento. Houve situações em que homens recebiam dos familiares, um binde de 'cuscus,' para conduzirem o corpo ao cemitério. Às vezes, os homens nem tinham paciência de esperar que o moribundo cerrasse os olhos, arrefecesse e fosse compensado. Casos houve, em que a pessoa quando atirada para cova adentro, exclamava: «inda mene merre!». (Fernandes, 1998, pp. 25-31)
Segundo relatos de quem viveu ou conviveu com pessoas que viveram nos tempos em que havia só milho para comer nesta ilha, muita gente se levantava de cama por volta das três da madrugada para porem na fila e aguardar, ansiosamente, pela sua vez de fazer moagem do seu milho na pedra d'rala e produzir farinha para, antes de partirem para as jornadas de trabalho de manhãzinha, poderem confecionar o teu tacho de papa d’mi rolon, o seu único matar d'injun disponível. Contudo, houve tempos em o milho era engolido inchado ou cru, porque "fome n'dem lei".
 Imagem 11 - Foto feito por mim ao Tio Djunga e a pedra d'rala que ainda existe na casa do nosso ascendente paterno (Bisavô e Avô) Manuel Zacarias Monteiro, na zona de Selada de Ribeirinha de Jorge, Ribeira da Torre - Novembro de 2016
Imagem 11 - Foto feito por mim ao Tio Djunga e a pedra d'rala que ainda existe na casa do nosso ascendente paterno (Bisavô e Avô) Manuel Zacarias Monteiro, na zona de Selada de Ribeirinha de Jorge, Ribeira da Torre - Novembro de 2016
Hoje, é com muita pena que não vemos a prática do uso da pedra d’rala no quintal ou terreiro de cada casa nas ribeiras ou povoados rurais da nossa ilha. Quanto ao seu uso pelos mais jovens, entre eles, aqueles que a conhecem, fazem a sua recusa. Outrossim, os jovens que a desconhecem por completo, sequer ousam perguntar sobre a sua história e investigar qual o seu valor cultural, quanto mais agora investir na aprendizagem do seu manuseio junto das pessoas mais idosas! É esse o tipo de 'gente' (filhos, sobrinhos, netos...) que estamos preparando para enfrentar o amanhã...
Contudo, peço minhas sinceras desculpas aqueles jovens que não se incluem nesse role, porque sei que ainda existem alguns deles (as relíquias entre a nova geração) que realmente sabem o gosto do "ralar" e "rolar" com o vaivém nas mãos do destino sobre o pouso das oportunidades do dia-a-dia e que a vida lhes dá, para poderem comer, por dia, um único prato de papa d'mi rolon, porque as suas famílias passam necessidades e em casa dos pais não têm quase nada que comer.
 Imagem 12 - Exemplares de pequenos sacos de farinha de milho importados do Brasil. Fonte: http://sinhaalimentos.com.br
Imagem 12 - Exemplares de pequenos sacos de farinha de milho importados do Brasil. Fonte: http://sinhaalimentos.com.br
Mas p'ra quê toda essa maçada que implica levantar de cama de madrugada, meus caros jovens, para moer na pedra d'rala e fazer farinha de milho, se ela já vem todo pronto do exterior, empacotada, em saquinhos de plástico, rotulados com marca diversa, preço e logo com a Dona IVA incluído. Mas, antes que me esqueço, diria que Dona IVA não! Mas, Senhor IVA porque estamos falando de "O" imposto... coisa que os linguistas discutiriam e esclareceriam melhor do que "certos" políticos da nossa Ágora.
Quanto a compra desses saquinhos de farinha de milho, basta ter dinheiro no bolso para mandar vir qualquer um, ao gosto, necessidade e preferência do freguês, entrando numa loja a retalho ao dobrar de um dos becos da Povoação (Cidade da Ribeira Grande) ou em qualquer ribeira. Porém, não havendo farinha de milho moído na pedra d'rala, desse milho geneticamente modificado, rotulado e em saquinhos de plástico, eu preferiria a Sinhá Fina porque moda gent entig tava dzê, "sberba n'dem bonq pê sentá" e já não tenho "pança" com a capacidade suficiente de suportar a Sinhá Média, quanto mais a Grossa?!
Fontes:
Livros
Burns, E. MC. (s.d.). História da Civilização Ocidental - Vol. I. Rio de Janeiro/Porto Alegre/São Paulo: Globo. S.d.
Fernandes, M. P. R. M. (1998). Os Contos da Paula. Mindelo: Gráfica do Mindelo.
Filho, J. L. (1997). O Corpo e o Pão - O Vestuário e o Regime Alimentar Cabo-verdianos. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras.
Ki-Zerbo, J. (2010). História geral da África I: Metodologia e pré-história da África. Brasília: Unesco.
Macgregor, N. (2013). A História do Mundo em 100 Objetos. Rio de Janeiro: Intrínseca.
Rocha, A. (1990). Subsídios para a História da Ilha de Santo Antão (1462/1983). Praia: Imprensa Nacional de Cabo Verde.
Rosicler, M. R. (s.d). O Homem na Pré-História. S.l: Editora Moderna. S.d.
Links
http://asemana.sapo.cv/spip.php?article83031
http://iriscordemelad.blogspot.com/2016_05_01_archive.html
http://www.historialia.com/detalle/57/homo-habilis-garganta-olduvai-tanzania
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crescente_F%C3%A9rtil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_da_Pedra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
Na minha zona, por exemplo, antigamente, haviam várias pedras do tipo e o seu uso era frequente. Eram usadas para triturar prentém do qual se fazia a famosa camoca de milho, "mi rolon" (farinha de milho não muito fina) para fazer "papa k'bobra" e outras COMESTÍVEIS à base do milho, "o pão nosso de cada dia", antigamente.
Hoje não existe uma pedra dessas, naqueles sítios onde existiam antigamente, para poder servir de memória e assim contar a história aos que não sabem. Bons tempos, mas infelizmente...
Na minha zona, por exemplo, antigamente, haviam várias pedras do tipo e o seu uso era frequente. Eram usadas para triturar prentém do qual se fazia a famosa camoca de milho, "mi rolon" (farinha de milho não muito fina) para fazer "papa k'bobra" e outras COMESTÍVEIS à base do milho, "o pão nosso de cada dia", antigamente.
Hoje não existe uma pedra dessas, naqueles sítios onde existiam antigamente, para poder servir de memóri
EXCURSOS DO MEU FILOSOFAR TELÚRICO (I): Comida e filosofia como degustação de três pratos típicos, à base do milho, na culinária tradicional cabo-verdiana (cachupa, papa, camoca).
“… a Cachupa (sopa de milho) não é mais usada por esses vagabundos, o milho come-se cru, já não há paciência para o cozinhar, o que provoca uma dilatação do estômago, devido à fermentação.”
(Luís Romano, Famintos, 1983, p. 23)
“Antónia de Laura, de pau de pilão na mão, de manhã cedo e à tardinha, batia, batia, preparando xerém, papas, fongos, brinholas, cuscuz torrado […] De balaio de tentém a apurar a farinha…”
(Teobaldo Virgínio, O Meu Tio Jonas, 1993, p. 51)
“– Que ninguém nos venha perturbar inadvertidamente, pretendendo que ninguém tem desejo […] de comida que não seja de qualidade. Porque, na verdade, toda a gente tem desejo do que é bom”.
(Platão, A República, 438a)
Senhores e senhoras, com as três citações em epígrafe, peço-vos licença para fazer algumas divagações filosóficas com os pés bem no chão e a cabeça fito na comida, pão nosso de cada dia. Vou filosofar um pouco sobre os tramas do mundo do comum dos mortais, “mundo sensível”, como o denominou Platão.
Começo os meus excursos dizendo que, num plemanhã log cidin, acordei-me com o estômago descabelado. Pensando na comida, veio, instintivamente, a ideia de preparar uma cachupa meme (cachupa c’se, sem ‘pão’) para o almoço, e com ela poder ‘tapar’ o enorme buraco que tinha aberto no estômago. De onde me veio essa lebzia meu Deus! Estou com “bicho-carpinteiro”? Será?!
Subitamente, perdi a fome, assim como, a vontade de comer cachupa c’se. E, em tom baixinho, murmurando, disse com os meus botões: ah qual história, almoçarei papa q’bobra!
Jantarei camoca d’pedra d’rala e pera desafogar a goela e desempedrar o estômago, nada melhor do que um chá d’cana pzód ne plon. Em todo o caso, hoje é Domingo! Então, p’ra quê infrontá por causa d’comida?
Uma hora e meia depois, tive uma intuição e, ante ao impulso incontrolável de pegar em lápis e papel, meus fiéis instrumentos no trabalho de “história e memória”, segurei, primeiro, esse modesto e dócil carvão, a seguir, uma folha reciclável de teste sumativo apanhado entre o montão de papeis que costumo guardar em casa, e, assim, comecei a escrevinhar algumas ideias que me foram, através de um insight, aparecendo, mercê, Luís Romano, Teobaldo Virgínio e Platão, todos, meus escudeiros, citados em epígrafe. Seduzido pelos três, movido pela vontade de saber e pelo meu recente êxtase pela escrita sobre coisas da terra, aventurei-me, numa digressão filosófica sobre o assunto comida, um tema inédito no lado de cá. Mas, digressão filosófica sobre comida? Filosofia e comida? Como assim?!
Sim, comida e filosofia! É isso que leram! Mas atenção! Comida e filosofia só depois de “barriga cheia”, porque como se diz aqui na ilha “sóc bezi n’de pô impê”! E sendo verdade, então, vamos encher o bucho primeiro, porque o almoço já está pronto e sobre a mesa. E já sabem, ê papa q’bobra! Convido a todos a gastarem sua parte dess pôq ’nom mi chega…
De barriga cheia, lancei-me, de seguida, na projeção do meu empreendimento. Ao começar, senti, como é óbvio, necessidade de uma base filosófica por onde devia colocar as primeiras pedras do meu "filosofar telúrico". Repito, meu filosofar telúrico! Essa base se deve ao fato de que nenhum pensamento filosófico, por mais original que seja, “cai do céu”, digamos que não é um fiat lux ex nihilo. Aprendi isso com os meus mestres, aos quais deve muito, parte das minhas habilidades e competências desenvolvidas na área de investigação filosófica. E com base nesse pressuposto, diria que todo o esforço empregue no ato do filosofar tem de estar ligado a algum antecedente. Afinal de contas, a historicidade é caraterístico do saber filosófico.
A priori, com esse desiderato, comecei a revolver entre os meus arquivos digitais acedidos vi@ net, possíveis referências que, eventualmente, podiam me ajudar no desenvolvimento desse tema. Eis que me surge, depois de alguma procura, e quando menos esperava, uma obra da autoria de Angelina Nascimento (2007), com o título Comida: Prazeres, Gozos e Transgressões[i]. Estou falando de uma referênci@ (e-book) que tinha guard@do num dispositivo de armazen@mento de d@dos, em uma p@sta com o nome v@rios.philos e o ficheiro Antrop@sofia[ii].
Comecei a revoltear esse livro e, mais ou menos, em meio do caminho, parei num tópico com a denominação «Comida e Filosofa». Assim sendo, disse com os meus botões: caso resolvido, acertei em cheio… eureka!!
Foi bastante rápida a leitura desse tópico. O seu esboço, feito em menos de uma página. Nela, deparei-me com uma ligeira citação a partir de um empréstimo feito em um filósofo francês da atualidade, um ‘cinquentão’, de nome Michel Onfrey[iii]. Segue, em baixo, o seu registo:
Quando um filósofo fala de música ou pintura, continua sendo respeitado. Mas eu escrevo sobre comida e vinhos, que estão ligados ao olfato e ao paladar, sentidos considerados menos nobres pela nossa cultura. Luto para que a filosofia passe a encarar o corpo por inteiro”. (Nascimento, 2007, p. 108)
No filósofo Michel Onfrey reside la maître en quete desse tema proposto em meu projeto "excursos do meu filosofar telúrico". Como diz ele é preciso “lutar para que a filosofia passe a encarar o corpo por inteiro”. Mas, é bom que se diga que isto só é possível se, e só se, aderir às estratégias da “reforma” e “pluridimensionalidade” do pensamento (Morin, 2006). A meu ver, um pensamento que não separa, mas une. Une os diferentes saberes, sem pôr a tónica nos seus valores, resultados práticos e direções. Une o sensível com o inteligível, em vez de os dividir e distinguir, como fez Platão no seu tempo. Portanto, mercê Onfrey e Morin, é possível relacionar comida e filosofia. Outrossim, comida e outros saberes auxiliares à filosofia, tais como: arte, ciência (ciências sociais e humanas), política, religião, etc.
Na análise das relações entre comida e arte, é possível cruzar a culinária tradicional cabo-verdiana à base do milho com certas formas de expressão de arte, exemplo, literatura e pintura. Só a título ilustrativo, no campo da produção literária, encontramos um escólio sobre cachupa redigido por Baltazar Lopes, quem teve a coragem de beliscar nesse tema, através de um artigo intitulado “A Cachupa Nossa Quotidiana”, texto redigido em Fevereiro de 1983, e publicado no primeiro número da revista Ponto & Vírgula.
Ainda no campo da literatura de ficção podemos destacar obras de vulto como “Os Famintos” de Luís Romano (1983), um escritor já falecido, ilustre filho de Santo Antão, cuja obra é, a meu ver, uma ode (repito, UMA ODE!) aos tempos dramáticos de seca cíclica e prolongada em Cabo Verde e que foram responsáveis pela dizimação de boa parte da população da ilha de Santo Antão e outras ilhas irmãs, em tempos idos, bem visíveis no terreno através da carestia de comida para alimentar a bocas eslazeiradas destas ilhas. Como diz Romano (1983) naquela época qualquer camarada (sobre)vivente, “esperando a morte do moribundo, era capaz de o mergulhar dedos na goela não para lhe evitar a asfixia, mas para lhe retirar o bocado entalado na garganta e engoli-lo num fechar de olhos” (p. 23).

(Fotografia da Ilha de Santo Antão em tempos de fome, década de 40. Um aspeto de como grande parte da população vivia no interior da ilha, em 1940 e depois em 1942 e anos seguintes a seca prolongada foi responsável por uma das maiores catástrofes demográficas da história de Cabo Verde. Imagem acedida online em: https://blogueforanadaevaotres.blogspot.com/2012/03/guine-6374-p9675-meu-pai-meu-velho-meu.html)
Igualmente, no capítulo da arte em sua relação com a culinária destacam-se, no campo da pintura, algumas telas de Kiki Lima que, em meu entender, com os seus “ligeiros traços e poli cromatismos” de uma pintura “mimética” e "expressiva" da cultura cabo-verdiana (arte como imitação e expressão), retrata mulheres no pilão, a ventilar milho, fazendo cachupa na lenha e atiçando o lume no fogão de três pedras suportando o cadeirão, todas no seu esforço de representação da parte mais saborosa do ciclo de transformação do milho: a preparação e confeção da cachupa, nossa quotidiana...
Com Kiki Lima, podemos identificar alguns motes de estudo sobre a relações arte e comida (pintura e cachupa). Nesse pintor existem muitos aspetos que podem ser explorados a esse respeito. Diria eu, aspetos que dariam para desenvolver trabalhos e mais trabalhos de investigação. Então, para os filósofos da arte, que tal a sugestão de uma monografia sob o título Comida e Arte em Kiki Lima: um apontamento estético sobre pintura e cachupa, nossa quotidiana?
Hoje, quem não esta acompanhando continuamente as atualizações do saber filosófico, tampouco se “põe a par” dos reajustes que nele se vai fazendo, por causa das necessidades, invenções, exigências e desafios culturais dos novos tempos, pode achar um absurdo virmos à ribalta propor divagações a volta do tema comida e filosofia. Até, os mais incautos, podem dizer que é trote, já se chegou ao cúmulo da loucura e do ridículo por causa da filosofia, que filosofia nos arribou à cabeça, ou, quem sabe, dizerem com as suas próprias bocas, pensando com a cabeça dos outros, que estamos passando por uma fase de lebzia (falta de comida, fome!).
Vendo bem as coisas nesta última direção, até digo que é falta de comida sim! Mas, não é falta de comida no “bucho”. É na cabeça, isto é, uma espécie de lebzia de conhecimento, o que já é muito bom! E para saciar essa fome, de momento, nada melhor que divagar, filosofar sobre comida.
Se bem que o nosso pai, avô, bisavô, tetravô… Aristóteles já havia dito que “O filósofo é aquele que possui a totalidade do saber na medida do possível”. E para conseguir almejar esse saber total, geral, há que filosofar sobre tudo. Contudo, a expressão “tudo” que aqui se emprega pode estar armadilhado. Filosofar sobre tudo, quer dizer todas as coisas, mas não significa qualquer coisa! E mesmo que seja filosofar sobre qualquer coisa, essa coisa qualquer tem de nos interessar e interessar a todos. Então, comida não interessa a todos? Quem não come? Quem não sente fome? Quem não degusta o que é bom de comer?
Corroborando o argumento de Aristóteles, citaria outro filósofo, Buno Giuliani (2002) para dizer que filosofar é “procurar os princípios da natureza visível e invisível, é interrogar-se sobre a natureza da ‘substância’ […] de que são feitas todas as coisas materiais ou espirituais, a partir da experiência humana” (p. 125).
Baseando em Giuliani (200), afirmo que com essas divagações procura-se “os princípios da natureza visível”, interrogando sobre a “natureza da substância” de que são feitas algumas “coisas materiais” no campo da culinária tradicional cabo-verdiana. Culinária, um "saber-fazer" edificado a partir da experiência sensorial, em todos e com todos os sentidos, isto é, graças às sensações e aos órgãos sensoriais.
Ainda "atiço o lume" dizendo que, com estas divagações, estou filosofando “espigando milho” em solo cabo-verdiano, na nossa terra! Não é uma "pseudo-mania" minha, mas uma intuição que me permite, a partir de algumas experiências sensoriais vivenciadas como humano que sou, tecer relações entre o que se come e o que se pensa, numa tentativa de desenvolver uma atitude filosófica inovadora, isto é, um “filosofar como degustação”, passe as expressões do nosso já citado Onfrey. E isto implica erigir uma filosofia a partir do paladar conjugado com o olfato, a visão e todos os outros sentidos juntos, em concorrência com a razão, fonte do "filosofar como indagação".
Já se referiu que o foco central dessas divagações filosóficas sobre a comida, está em três pratos típicos da culinária tradicional cabo-verdiana confecionados à base do milho, concretamente, a cachupa, a papa e a camoca, comidas boas mencionadas no início do texto e que fazem parte do complexo da cozinha nacional, consolidado, há muito tempo, desde a era colonial, como afirmam os estudiosos da nossa história.
Passando agora, sem mais delongas, à “degustação” do almoço que, por perda de apetite e má vontade, não quis confecionar nesse dia, começo por dizer, à parte a história, que a cachupa é, sem dúvida, um dos mais caraterísticos pratos da culinária tradicional cabo-verdiana, se não, o alimento básico de toda a população de Cabo Verde e, por isso, reflete, praticamente, a paisagem, a riqueza e a cultura do nosso povo. Entre os vários preparados do milho, ela erigiu-se como soberana e incontestada nos gostos dos cabo-verdianos (os de cá e os lá, os dentro ou fora).
Existem três maneiras diferentes de a confecionar: cachupa rica, cachupa pobre ou de “agua e sal” e cachupa com peixe. Grosso modo, na cachupa “entram como ingredientes milho cochido (retirado o farelo), feijão, mandioca, batata vulgar e doce, hortaliças, chouriço, carnes variadas, abóbora, inhame, variedade de elementos que nas classes mais pobres se vêem reduzidos, muitas vezes, apenas a milho feijão, água e sal…” (Filho 1997, p. 198)
Para degustar melhor a cachupa diria, suportado em Agostinho Rocha, que em Santo Antão, este prato é "predilecto, faz-se desfarelando o milho no pilão de cochir ou batchir o milho, significando cochir, bater no coche ou no pilão de batchir, bater, importado do batcher de certos falares brasileiros” (p. 55).
Batchido o milho, em seguida era-lhe retirado o farelo no balaio de tem-tem e levado a cozer na caldeira de fazer cachupa. Adicionava-se-lhe ervilha, feijão pedra ou feijão pavão, corruptela de fava, e depois de secar duas ou três águas, deitava-se-lhe o pão de caldeira, constituído por mandioca, inhame, banana verde, abóbora, batata doce ou batata inglesa, mas, antes de levar o pão já tinha levado carne, toucinho, peixe ou galinha, couve, agriões ou mostarda em folhas.
No fim era temperado com pimenta, cravo, malagueta, tudo pilado no pratinho de pisar tempero que era uma escudela de figueira, deitava-se o sal com uma colher para ver se estava no ponto ou se este tinha salgado a comida. Já se podia tirar o rico caldo de cachupa.
Às vezes quando havia alguém com vontade de comer, antes de jantar dava-lhe cachupa ‘sepulcada’, isto é, salpicada. A cachupa era levada à mesa em terrinas, travessas, pratos de folha ou pratos de figueira, conforme a categoria das pessoas, sendo o ‘pão’ e a carne servidos noutros pratos. Deixava-se uma parte de cachupa ou micochido para o ‘pão’ de café do dia seguinte, ou seja, para o pequeno almoço, aí as seis ou sete horas de manhã. Depois de guisada era servida com peixe frito ou carne assada, ovos cozidos, quentes, ou escalfados, ovos de tartaruga, chouriço, linguiça, fruta, morcela, paio ou peixe assado nas brasas, batata doce assada, mandioca assada na brasa ou feita como a batata ou também podia ser cozida e seguia-se para trabalho até a hora do almoço. […]
Quando a cachupa não trazia pão ou ingredientes, diziam que comiam a cachupa ‘merme’ e que era só cachupa «c’se». (Rocha, 1990, p. 55-56)
De facto, verifica-se que a culinária cabo-verdiana é feita de engenho e a partir, principalmente, do milho, reafirmo, o pão "nosso de cada dia”, em sua relação com o pilão e outras máquinas arcaicas de "pedra e pau". Excetuando os tempos de falta de milho em Cabo Verde, desse alimento não se comia só o farelo, o qual, em tempos de fartura, era administrado como ração para “alimárias” (porcos, cabras, galinhas, etc.).
Sobre o uso deste utensílio doméstico e sua importância no ciclo de transformação do milho, escreve Teobaldo Virgínio (1996) em seu Cabo Verde – Parágrafos do meu Afecto: “É o pilão um dos ecos mais profundos da sociedade caboverdiana de sempre” (p. 63). Atesta Virgínio que o pilão,
Terá surgido com o cultivo do milho nos recuados tempos do povoamento, da reminescência de experiências anteriores, ou já transportados nos barcos dos mercadores da Costa de África e do Brasil.
O pilão é toda uma cultura. Na casa do pobre, na do remediado, na do rico. Do tronco de figueira brava, em princípio, e mais tarde do da mangueira, quando a figueira já morria, é instrmento que não requer tratos de arte não obstante um outro mais apurado pelas mãos de artistas com gosto.
Com um abertura em funil num dos extremos do tronco, aí de metro e pouco, uma espécie de colar recortado a vinte centímetros da base, mais dois paus de laranjeira (os martelos) temos o conjunto dessa máquina primitiva ainda presente nas nossas ilhas.
O pilão assim visto não sugere muita coisa. Mas quem de manhãzinha o ouvisse em actividade, dar-se-ia conta de um engenho com coração, alma e cor. Aqui há tudo: flores, madrigais, contraditas, desafios, amores, cuscus, xerém, cahupa, fongos, papas, brinholas num quadro crioulo que nenhuma outra criação pode dar.
Há pilões de todas as dimensões: o pilãozinho de pilar café, o de moer sal, outro mais pequenino de esmagar malagueta, o alho, o cravo e ainda outro mais acabado da facturação do cancan, tratado do pó de tabaco com o cheirinho de várias essências.
Mas o pilão, o pilãozinho, é o rei da festa Aquele que mais chora quando a nuvem enxuga os olhos. Tinha que ser assim. Um povo de vida centrada na cintura desse velho-pau-amigo como lhe daria vida sem milho, sem emoção das águas de encharcar potes, meladores, canaviais, ladeiras da flor do milho?
Pilão da melhor cachupa que comemos na infância feitas pelos presos do tempo de Nhô Antoninho Leite, carcereiro, na Ponta do Sol. Aqui eram quatro a sei homens a pilar o milho. Qualquer coisa como o ritmo do batuque ou tambores de S. João.
Musculosos presos no trato do seu pão. Cuchiam, esfarelavam, cuzinhavam, temperavam o melhor prato regional que o delegado de Portugal, por dever de ofício e prazer, ia experimentar todas as tardinhas. À esquerda a horta dos legumes que engordavam o prato.
Cadeia de Nhô António Leite, famosa cadeia do pilão, lugar de visitas e cavaco, dos porcos desmesuradamente gordos do farelo de quartas de milho. E ficava no apetite o gostinho a friginato que viria depois.
Cadeia de Nhô Antoninho Leite, de piladores de pequenos azares (fora o milho), os presos que não passavam do quotidiano do pilão e da cachupa a tempero também do ilhéu e da albacora do mar da Ponta do Sol. […]
Pilão, velho amigo da terra sem chuva! (Virgínio, 1996, pp. 63-64)
Ainda, com esta “primitiva máquina”, o pilão, se pode reduzir o milho a partículas menores que são transformadas em farinha grossa, média ou fina. Contudo, esta farinha, pode ser obtida com outras "máquinas primitivas" feitas de pedra. Por exemplo, o moedor de mão, isto é, a famosa “pedra de rala” da minha meninice na zona onde nasci e que me fez homem, sito num regato onde íamos apoquentar as menininhas as espiando perboch aquelas que não traziam cuecas. A «pedra d'rala», também chamada "mó de rebolo" ou "vaivém" é, assim como o pilão (de pedra e pau), uma "primitiva máquina". E lá já ia me esquecendo da "mó volante", outro utensílio com a mesma função, também feito de pedra!
Com a farinha de milho se fazia papa. Outrora adicionava-se abobora à essa boa comida, sendo servida ao almoço, acompanhada, sobretudo, com leite de cabra fresco. Costumava-se guardá-la de um dia para o outro e servi-la ao pequeno almoço em fatias ou frita (Filho, 1997, p. 201). Com a boa papa q'bobra tive excelente almoço e tapei o enorme buraco que tinha aberto no estômago! Valeu a pena, pá!!
Agora o meu jantar! Estou falando da camoca, um prato que se come, ainda hoje, com leite e açúcar, café, chá e, também, em forma bolinhos, cujo nome agora passou-me. Ajudem-me a trazê-lo dos confins da memória. Por favor, socoooorro!
A camoca é feita a partir dos grãos de milho torrado (prentém, como se chama qui em Santo Antão) e esmagados no pilão, na mó ou no rebolo (pedra d’rala) até se transformar numa farinha bem fina que é depurada no balaio de tem-tem, geralmente por mulheres como aquela tal "Antónia de Laura… De balaio de tentém a apurar a farinha…” (Virgínio, 1993).
Na verdade, tudo o que é bom, toda gente tem vontade de o comer. Então, que ninguém nos venha perturbar, inadvertidamente, pretendendo dizer que não têm desejo de comer cachupa, papa ou camoca porque não são comida boa, isto é, prato de má qualidade.
Antes de terminar a degustação filosófica dos três partos da culinária típica cabo-verdiana à base do milho, considera-se que, aos lhos do nosso povo, cachupa, papa e camoca são nada mais que três “pratos desconstruídos” que protegem o “espírito do milho”, empregam e preservam ou mesmo reforçam a intensidade do sabor desse alimento. Milho é a substância, um produto da terra, base dos principais pratos tradicionais do nosso complexo culinário, que apresentam uma combinação de textura completamente transformada e diferenciada. Digamos, pratos que são milho que deixou de ser milho para passar a ser cachupa, papa, camoca... cada um com a sua textura, sabor próprio, tempo de preparação (confeção). Ao fim ao cabo é, em simultâneo, milho vário e singular! Milho sepulcado (salpicado), bem cozido, torrado… assado, é milho diverso, múltiplo! Cru, é milho uno, único, altivo e soberano. Milho, sempre milho, e milho, e milho, e milho... igual a si próprio. Nas nossas cozinhas, nos nossos pratos, no nosso estômago. Mas, antes passado no pilão, na pedra d'rala ou na mó. Assim, termino minhas divagações com uma frase de oiro, citando um ancião com o qual aprendi muito, sobre milho, na infância, em tempos de sementeira em pó: "Óh muêr, mi ê quê govérr d'um casa"!
Bibliografia e Referências
Giuliani, B. (2002). O Amor da Sabedoria – Iniciação à Filosofia. Lisboa: Instituto Piaget.
Lima, K. (2003). Kiki Lima. Lisboa: Caminho. pp. 25-34.
Lopes, B. (1983). A Cachupa Nossa Quotidiana. Ponto & Vírgula, 1. pp. 3-6.
Morin, E. (2003). A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand.
Nascimento, A. B. (2007). Comida: Prazeres, Gozos e Transgressões. Salvador: EDUFBA.
Platão. (2007). A República. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Rocha, A. (1990). Subsídios para a História da Ilha de Santo Antão (1462/1983). Praia: Imprensa Nacional de Cabo Verde.
Romano, L. (1983). Famintos. Lisboa: Ulmeiro.
Virgínio, T. (1993). O Meu Tio Jonas. Boston: Novela Caboverdiana.
Virgínio, T. (1996). Cabo Verde – Parágrafos do meu Afecto. Boston: Ruben Melo.
Notas de fim
[i] Eis o link de acesso o livro: https://www.passeidireto.com/arquivo/5203744/comida--prazeres-gozos-e-transgressoes
[ii] Neste parágrafo, o uso predominante do símbolo @ é para indicar a natureza da fonte documental consultada. Fonte em formato digital, acedido, via net.
[iii] Para conhecer melhor este filósofo, consultar o link: https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Onfray
OUTROS TRILHOS DE HISTÓRIA DA ILHA DE SANTO ANTÃO (III): Festa d’guarda-kabésa, p’inxotá Nhá Josefa, ne R’bêra dô Torrre.
Como tínhamos anteriormente publicado em nosso Apontamento, a nossa viagem vai ser longa, demorada, cansativa, na tentativa de divulgação do nosso e vosso projeto Outros Trilhos da História da Ilha de Santo Antão.
Dizem que “cavalo correndo por conta própria não cansa, nunca!” E se assim é, vamos continuar correndo por conta própria, mesmo que não nos deem nem palha, tampouco água. Força de vontade, e reserva no bandulho é o que nós temos!
Atentos ao chão em que estamos pisando, mesmo correndo alguns riscos e com os olhos fitos sempre em frente, direcionados ao nosso foco (a nossa meta), afirmamos, mais uma vez, aqui e agora, que o domínio de investigação onde se enquadra o nosso projeto, é o domínio da história cultural. Estamos nos referindo a um dos domínios da história que, hoje, pelos seus desafios, sejam estes intelectuais e/ou emocionais, no plano académico ou na midia, está sujeito à críticas, problemas e riscos de análise e, quem sabe, ataques vindos de várias direções. E isto deve-se ao fato de que “o historiador, enquanto produtor de um texto, e também o público leitor, consumidor de História, devem assumir a dúvida como um princípio de conhecimento do mundo” (Pesavento, s.d., p. 69). Citando essa mesma autora arriscamos ainda em afirmar que
A racionalidade não explica tudo, operando o historiador com um regime de verdade segundo o qual as conclusões podem ser admitidas como provisórias.
Há mais dúvidas do que certezas, o que compromete o pacto da História com a obtenção da verdade. Esse pacto resta como um valor a atingir, como uma busca sempre renovada, de chegar o mais próximo possível do real acontecido. Mas o resultado é sempre uma versão possível, plausível. Isso por vezes é confundido com a tal postura pós-moderna que pesa como uma acusação sobre a História Cultural: segundo essa abordagem, a História não é ciência nem visa a atingir um conhecimento sobre o passado. Ela seria igual à Literatura, ou seja, visaria a agradar, divertir, oportunizar fruição estética. Não teria maiores preocupações com problemas sociais ou questões políticas maiores – estas, sim, sérias – e só visaria a agradar o público, com uma História-passatempo. (Pesavento, s.d., p. 69)
Realmente, o projeto de investigação que tencionamos empreender no domínio da história, apostado no desenvolvimento de temas no domínio da cultura que já começamos a divulgar e socializar em nosso blog, tem como objetivo, à luz das ideias expressas no trecho acima transcrito, "agradar", "divertir", criar oportunidades para a "fruição estética", enfim, contribuir para edificação de uma “história-passatempo”.
Trata-se de um hobby e nada mais, mas com segundas intenções (boas intenções)! Aqui não estamos sob os condicionamentos de procedimento metodológico e presos às formalidades científicas e académicas da “história que todos contam”. Não é uma história posta ao serviço dos problemas sociais e/ou questões políticas maiores e mais sérias, como diria a autora supramencionado e igualmente nos sugeriu que fizéssemos um ex-discípulo nosso, do Liceu. Informamos que esse discípulo, foi um grande aluno nosso, hoje “homem feito, louvar a Deus!”, um excelente profissional do Direito à busca de oportunidades, bom cidadão cabo-verdiano, um conterrâneo santantonense e também nosso kompas, como diria o Mantókas.
Esse kompas, nos tratando de “meus mestres" e "grandes professores”, em seu comentário post@do diretamente em nosso blog, um esp@ço de p@rtilha e de muita reflex@o, afirmou categoricamente que hoje existe uma “decadência da ilha de Santo Antão, em todos os níveis”. Vejam só meus senhores: decadência de uma ilha, a ilha que nos viu nascer, em todos os níveis!
Trata-se de uma afirmação muito arrojada que, sem bazófia ou lisonja, demonstra que aprendeu muito com as aulas de filosofia que connosco teve no liceu. Com o estudo dessa disciplina conseguiu “sair da caverna”, libertou-se, como uns tantos outros, dos “grilhões da vida”.
Mas, meu kompas, empreender um projeto de investigação sobre a decadência da ilha de Santo Antão, em todos os níveis? Neste preciso momento, abrenuncia! Se tivermos de o fazer um dia, figa conhóta berdolega espanha… O que importa é que o desafio está lançado. No futuro, quem sabe, juntos (eu, tu, ele/ela, nos, vós, eles/elas…), possamos fazer disto um "constructo", para o bem, o “bem comum” da nossa ilha!
Decadência, degradação, abandono, esquecimento, morte e enterro… Nesta hora de festa de finçon de (e ne) sintonton, uma "festa triste" que muitos consideram não ser festa, mas que na realidade é uma festa porque, de acordo com a tradição desta ilha, tem de comportar um momento de patuscada de comes e bebes. Perguntamos: quem não gosta de um bom Kefê d’funto?
Senhores e senhoras, um grogue pe trá boca de mort, pode ser? Vamos! Grogue goela abaixo fazendo clutch clutch clutch, moda ti Kémil irmão de Irmon Toi, que morreu em Ribeirinha de Jorge, Ribeira da Torre e foi levado p’ra Tchan d’Ilhéu, diazá…
Passado alguns instantes, escutamos, baixinho, nesta hora de dor e tristeza, uma voz oficiando em nome dos finados, de todos os finados, inclusive o filho que cá em baixo, há dois dias foi “dado à terra”, no Alto de São Miguel: Sans tibi Diminae Rex eterna Glória, Amem[i].
Pegando de novo no desafio que nos foi feito pelo nosso kompas, dizemos que pelo que pensamos e nos ideais em que acreditamos, seria bastante interessante investir na Bildung da história tendo como possível mote a génese e evolução da “morte” da ilha de Santo Antão, tantas vezes anunciada, precocemente, já em tempo colonial, mas hoje mais visível que nunca, porque existe uma degradação desta ilha, em nosso entender, pelo menos, ao nível intelectual (pobreza de espírito). Afirmamos, sem medo e nem tabus, que é uma degradação que se vislumbra há um palmo da nossa testa. Vemos isso, todos os dias, em nossos locais de trabalho… Num simples café ou bar, todos igualmente espaços públicos de socialização e comércio de ideias. Quem diria, Santo Antão!
Vejam que esta ilha, outrora, deu à Metrópole alguns “Cabo-verdianos ilustres”, passe as expressões que tomamos emprestado num amigo de Cabo Verde em tempo colonial (décadas de 50 e 60), o cidadão metropolitano e advogado Dr. António Barros (1961, pp. 34-35). Alguns deles, como redigiu, com provas dadas no domínio da ciência, arte da navegação, defesa militar, política, etc. Temos, a título de exemplo,
… Roberto Duarte Silva […], notável químico e professor em Paris, onde tem uma estátua; […] Simão Alves Juliano [Simão Salvador] […], ilustre marinheiro, que tem um busto na Praça do Comércio, no Rio de Janeiro; Viriato Gomes da Fonseca […], general, deputado e vogal do antigo Conselho Colonial. […]
Como se vê, ministros, militares […], professores, homens de ciência, devendo salientar-se, sobretudo, o cientista dr. Roberto Duarte Silva, honrado com um busto em Paris, o que, só por si, em uma homenagem à altitude científica do seu espírito”. (Barros, 1961, 34-35 grifos nossos)
Mas, por agora não é nossa intenção imiscuirmos-nos em assuntos da história social e política, mesmo que estejam esses motes de investigação histórica a trespassar a nossa frente e sintamos um pouco à vontade nestas matérias. Não são o nosso Foco. Quem sabe, um dia, possamos nos aventurar por essas bandas. Mas atenção! Isso, em nosso entender, só quando tivermos ganhado o juízo suficiente, mais velhos e demasiadamente experimentados em investigação histórica.
Esta recusa, justifica-se pelo fato de não desejamos ser condenados ao ostracismo ou à morte aqui na Povoação da Santa Cruz, (Vila da Ribeira Grande a partir de 1732, Puvoçon há uns anos e Puva hoje) como na antiga Grécia, em pleno contexto de uma democracia ateniense. Se bem que gostaríamos de ter o traquejo de um Sócrates, Platão ou Aristóteles! Mas, não sendo possível, contentemos com as lições dos sofistas…
Fechado esse parêntese e para nos esquivarmos dos alentos e ímpetos dos que se dizem ser eles especialistas em história, os únicos detentores do conhecimento histórico (história da arte, como nos afirmaram!) e que mesmo sendo especialistas, ainda esses "cérebros" ou "cabeças bem cheias" não tiveram a coragem suficiente de usar os seus títulos académicos e aquisições (graduações, pós-graduações, outros títulos mais) e suas aquisições e competências para dar provas em investig@ção histórica, criando assim, como nós, um blog para efeito de p@rtilha e socializ@ção das suas realizações e ideias (boas ideias como condição, exigimos nós!) no campo do saber histórico, que corresponde à sua "zona de conforto". Arriscar nunca é demais para um professor (primário, secundário ou universitário) que pelo seu papel que desempenha no domínio cultural e social, tem de ser empreendedor, por natureza.
E nós, assumindo na plenitude os nossos saberes, como professores empreendedores em ciências humanas e sociais, informamos que a nosso modo de fazer história não vai de encontro à história que “todos contam” e a maioria faz, pensa e defende. É uma história que vai de encontro àquilo que é a história hoje, direcionada para várias linhas de investigação, sendo uma dessas direções as vivências do mundo sensível, associadas ao simbólico e ao fantástico. É um tipo de história muito soft, descomprometida, não académica. Ou seja, uma história-passatempo associada às áreas como antropologia, etnografia, sociologia, filosofia, literatura e agora, num mudo cada vez mais globalizado e prospetivo, surge-lhe como parceiro certo, uma grande colaboradora (ferramenta) as tecnologias de informação e comunicação (TIC). Estamos nos referindo à história cultural e não a história política ou àquela que se ensina atualmente no liceu.
A propósito daqueles que defendem cegamente a ideia de especializações em história, fomentando a “unidimensionalidade” do pensamento, citamos Edgar Morin (2003, p. 88) para defender o nosso projeto de investigação em história cultural. Este sim, um trabalho que vai de encontro à “pluridimensionalidade” do pensamento e, escrupulosamente, rege-se pelos ditames de uma “reforma de pensamento”. Com base neste (sociólogo, historiador e filósofo) argumentando, defendendo que,
Como todas as coisas são causadas e causadoras, ajudadas e ajudantes, mediatas e imediatas, e todas são sustentadas por um elo natural e impercetível, que liga as mais distantes e as mais diferentes, considero impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, tanto quanto conhecer o todo sem conhecer, particularmente, as partes…
Há, efetivamente, necessidade de um pensamento: […] que compreenda que o conhecimento das partes depende do conhecimento do todo e que o conhecimento do todo depende do conhecimento das partes; […] que reconheça e examine os fenómenos multidimensionais, em vez de isolar; de maneira mutiladora, cada uma de suas dimensões; […] que reconheça e trate as realidades, que são, concomitantemente solidárias e conflituosas (como a própria democracia, sistema que se alimenta de antagonismos e ao mesmo tempo os regula); […] que respeite a diferença, enquanto reconhece a unicidade.
É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e une. É preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor por um pensamento do complexo, no sentido originário do termo complexus: o que é tecido junto. De fato, a reforma do pensamento não partiria de zero. Tem seus antecedentes na cultura das humanidades, na literatura e na filosofia, e é preparada nas ciências. (Morin, 2003, p. 88)
Depois dessas longas considerações (algumas delas farpas, e por isso desculpas a quem não merece ouvi-las, outros esclarecimentos necessários e, desde já perdão por toda essa maçada de leitura, mas infelizmente inevitável!), passemos agora, sem mais delongas, para o estudo do tema anunciado no subtítulo do nosso artigo. Se já estiverem perdidos por causa desses tantos rodeios, chamamos atenção que estamos falando da festa de guarda-kabésa, uma outra “celebração festiva sazonal” (Luchini, s.d.) que se realiza em Santo Antão e também nas outras ilhas irmãs.
Percorrer sobre os trilhos da história dessa festa, requer, sem dúvida, fazer um trabalho histórico na vertente popular, sentimental e oral (folclórica). Referimos-nos, concretamente, à história sobre as estórias e contos que, associados à certas crendices e superstições do nosso povo, alimentam o espírito do tempo que é caraterístico de certas manifestações culturais da ilha de Santo Antão, como a festa de guarda-kabésa, por exemplo.
Informamos que este artigo agora dedicado ao estudo dessa festa é apenas um parêntese (um longo parêntese, o que já era para nós previsível!) que abrimos a fim de podermos compreender melhor a essência da festa de batizado.
A propósito de estórias, superstições e crendices da ilha de Santo Antão, um dos seus domínios de atuação é o “bruxedo”, como dizem, “encantamento”, sustentado na ideia de que existem bruxas, isto é, “pessoas que têm efeitos maléficos” e o poder mágico ou sobrenatural de “comer uma criança” (Silva, 1998). É esta crença um dos motes, se não o principal motivo, que sustenta a realização da festa de guarda-kabésa, nesta ilha, em Santiago e nas outras ilhas do arquipélago de Cabo Verde.
Ciente dessa crendice nas bruxas, surge-nos agora uma necessidade, a necessidade de compreendermos melhor os significados de conceitos como "bruxa", "bruxaria, "feitiçaria", o que requer uma clarificação dos mesmos no campo lexical e semântico. Pelo que atestam os autores Cabot & Cowan (1992) “Bruxa” é uma palavra
…deliciosa, impregnada de antiquíssimas memórias que remontam aos nossos mais remotos ancestrais, que viveram em estreito contato com os ciclos naturais e apreciaram o poder e a energia que compartilhamos com o cosmo. A palavra Bruxa pode instigar essas lembranças e sentimentos, até no espírito mais cético.
A própria palavra evoluiu através de muitos séculos e culturas. Há diferentes opiniões sobre as origens da palavra inglesa Witch (bruxa). No anglo-saxão antigo, wicca e wicce (masculino e feminino, respectivamente) referem-se a um ou uma vidente, ou aquele (ou aquela) que pode prever informações por meio da magia. Dessas palavras radicais derivamos a palavra wicca, um termo que muitos na Arte usam hoje para se referirem às nossas crenças e práticas. Wych em saxão e wicce em inglês arcaico significam “girar, dobrar, moldar”. Uma palavra radical indo-europeia ainda mais antiga, wic, ou weik, também significa “dobrar ou moldar”. Como Bruxas, dobramos, subjugamos as energias da natureza e da humanidade para promover a cura, o crescimento e a vida. Giramos a Roda do Ano à medida que as estações passam. Moldamos nossas vidas e ambientes para que promovam as boas coisas da Terra. A palavra Witch também pode ter a origem na antiga raiz germânica wit – saber. E isso fornece igualmente um certo insight sobre o que é uma Bruxa – uma pessoa de saber, versada em verdades científicas e espirituais.
Nas origens de muitas línguas, o conceito de “Witch” fazia parte de uma constelação de vocábulos para significar wise (sábio) ou “wise ones” (os sábios). Em inglês, vemos isso com extrema clareza na palavra magic, a qual deriva do grego magos e da palavra persa arcaica magus. Ambas estas palavras significam “vidente” ou “feiticeiro”. No inglês arcaico, o vocábulo wizard significava “o que sabe”. Em muitas línguas, Bruxa é a palavra encoberta nos termos comuns, cotidianos, para sabedoria. Em francês, a palavra para parteira é sage-femme, “mulher sábia”.
A sabedoria enriquece a alma, não apenas o espírito. E diferente da mera inteligência, informação e sagacidade, que só residem na mente. A sabedoria vai mais fundo do que isso. Quando o cérebro, com sua multidão de fatos e peças de informação, deixa de existir, a alma persistirá. A sabedoria imarcescível da alma sobreviverá.
A palavra grega para a alma é psyche. Pensamos frequentemente nos psíquicos como indivíduos talentosos e raros porque podem usar como fonte essa sabedoria universal, mas o dom não é raro. Todos nós o possuímos; cada um de nós é um indivíduo dotado de alma. Todos dispomos de poderes psíquicos ou poderes anímicos, e cada um de nós pode reaprender – ou recordar – como usá-los.
Embora homens e mulheres compartilhem do poder da magia, a palavra Witch tem estado mais comumente associada a mulheres do que a homens; no entanto, os homens na Arte são também denominados Witches (Bruxos). Durante a Era das Fogueiras, 80% dos milhões de pessoas que foram queimadas vivas por prática de feitiçaria eram mulheres. Ainda hoje, a maioria dos praticantes da Arte são mulheres, embora esteja aumentando o número de Bruxos. Há uma boa razão para pensar na Feitiçaria como uma Arte feminina. O poder de uma Bruxa ocupa-se da vida, e as mulheres estão biologicamente mais envolvidas na geração e sustento da vida do que os homens. Não é uma coincidência que quanto mais homens se fazem presentes no momento do parto e assumem responsabilidades na assistência ao bebê recém-nascido, maior é o número de homens que se interessam pela Arte. O espírito dos tempos está levando homens e mulheres a restabelecerem a ligação com os mistérios da vida que se encontram nos ritmos naturais da mulher, da Terra e da Lua – pois os mistérios da vida são os mistérios da magia.
A magia é o conhecimento e o poder que promanam da capacidade de uma pessoa para transferir a seu talante a consciência para um estado inabitual, visionário, de cognição ou percepção inconsciente. Tradicionalmente, certos meios e métodos têm sido usados para causar essa transferência: dança, canto, música, cores, aromas, percussão de tambores, jejum, vigílias, meditação, exercícios respiratórios, certos alimentos e bebidas naturais, e formas de hipnose. Ambientes espetaculares e místicos, como bosques, vales e montanhas sagrados, igrejas ou templos, também alterarão a consciência. Em quase todas as culturas alguma forma de transe visionário é usada para os rituais sagrados que abrem as portas para a Inteligência Superior ou para o trabalho mágico.
Desde os tempos neolíticos, a prática da Feitiçaria sempre gravitou em torno de rituais simbólicos que estimulam a imaginação e alteram a consciência. Rituais de caça, experiências visionárias e cerimônias de cura sempre tiveram lugar no fértil contexto dos símbolos e metáforas próprios de cada cultura. Hoje, as meditações e sortilégios de uma Bruxa continuam essa prática. O trabalho de uma Bruxa é trabalho mental e utiliza poderosas metáforas, alegorias e imagens para revelar os poderes da mente. Os índios Huichol do México dizem-nos que a mente possui uma porta secreta a que chamam nierika. Para a maioria das pessoas, ela permanece fechada até o momento da morte. Mas as Bruxas sabem como abrir e transpor essa porta ainda em vida e trazer de volta, através dela, as visões de realidades não ordinárias que propiciam finalidade e significado à vida.
As imagens e os símbolos da Feitiçaria possuem uma qualidade misteriosa e mágica porque tocam em algo mais profundo e mais misterioso do que nós próprios. Desencadeiam verdades perenes represadas no inconsciente, as quais […] fundem-se com as respostas instintivas do reino animal e podem abranger até a criação inteira. O conhecimento mais profundo, do outro lado da nierika, é sempre conhecimento do universo. Está sempre presente, ainda que, como a chama de uma vela na luz ofuscante do sol, pareça invisível e incognoscível. Mas a magia transporta-nos para esses domínios profundos do poder e do conhecimento. Ela nos leva a mergulhar na suavidade do luar, onde a chama de uma vela cintila constante. Pode fazer nos transpor a nierika e depois trazer-nos outra vez de volta.
Os conhecimentos profundos que provêm do inconsciente nem sempre podem ser expressos em palavras; requerem frequentemente a poesia, o canto e o ritual. Algures no centro da alma humana existe um senso de identidade que jamais pode ser transmitido somente por palavras de um ser humano para outro. Cada um sabe haver em si muito mais do que pode ver ou expressar, tal como sabe haver no universo mais do que atualmente compreende. Na melhor das hipóteses, o indivíduo só pode fornecer alusões e lampejos do seu eu mais profundo através das coisas de que gosta, daquilo que teme, do modo como se desempenha, da forma como sorri. Guardado no centro do seu ser está o segredo do que ele é e do modo como se relaciona pessoalmente com o resto do universo.
O conhecimento que uma Bruxa tem de si mesma, da natureza, do poder divino que transcende o próprio cosmo pode expressar-se melhor através do mito, símbolo, ritual, drama e cerimônia […]. E verificamos assim que, desde os tempos mais remotos, homens e mulheres virtuosos de todas as culturas criaram práticas ricas em símbolos e metáforas que a mente inconsciente reconhece e entende intuitivamente: tambores, gemas, penas, conchas, varas de condão, taças, caldeirões, ferramentas sagradas e vestimentas feitas de plantas sagradas, animais e metais repletos de poder. São essas as imagens que revelam os padrões de conhecimento que estão subjacentes no universo físico. São essas as imagens que nos conduzem ao poder secreto que se oculta no centro das coisas, incluindo os nossos próprios corações. Com esses ritos e imagens podemos – como dizem as Bruxas – ‘puxar para baixo a Lua’. (Cabot & Cowan, 1992, pp. 26-30)
Queremos anunciar que o subtítulo completo deste artigo é Festa d’guarda-kabésa, p’inxotá Nhá Josefa… Kel bruxa de rób ézéd ê k’te k’mê nó gót, ne kôtchôrr, ne Fernendin di meu, nhê primer amor; Kantamás, pá ká k’mé kel ónje d’ Bia de Silvestra, um mês e pôc dia d’pôs de sê dia de sét ne R’bera dô Torre. Daí que pedimos licença aos nossos leitores e, ao próprio autor da obra consultada (Dias, 2006) o nosso pedido de autorização (com humildade, responsabilidade, motivação plausível e boas intenções) para transcrevermos na íntegra a sua e, neste caso, a nossa “estória da Nhá Josefa”, uma estória, para nós, mut séb, mas para muitos pode ter o sabor de “grog máfe que ‘Ntône Rôbôc anda entornando goela abaixo”, isto é, concretamente para aquelas pessoas que ainda acreditam em bruxas, em pleno século XXI, era da "Electra". Electra sim! Mas, menos nos dias chuvosos e na hora de cobrar a fatura. Agradecendo à ela diria 'luz pógód, czement órmód', o nosso Djunga, Pé Jôn Rezlina (João Nascimento Medina, 1914-2002), uma grande figura de Ribeirinha de Jorge, residindo eternamente hoje, no Alto de São Miguel. Paz na tua alma, Djunga!
Essa estória é um caso de bruxedo na Ribeira da Torre[ii], uma das principais ribeiras do concelho da Ribeira Grande, que começa esconjurando uma senhora (uma bruxa até nosso familiar, por afinidade, por isso muito cuidado!) que muita gente, assim como o próprio autor ainda ‘huminha’ e nós um “gron d’mi” como nos chamava César, "o desgraçado"… também pensávamos, inclusive o próprio malogrado César, a nossa Tia Gina (que ingrata!) e outros kompas d'infância em Fajã Domingas Benta, ser ela um fetcêra d’rób ezéd. Começa assim essa estória:
Figa cónhota berdolega espanha! Dedos em cruz atrás das costas, os passos voando lestos na estrada empoeirada do vale, á caminho da escola do Marrador. Mi’m n’tem poder c’mim, Nhá Josefa! Coração palpitando. Medo. Ninguém ao redor, chiça! E a casa de Nha Josefa mais perto. Cada vez mais perto. Já vejo a porta da cozinhóla. Hoje o César não me esperou, o desgraçado, mas ele me para! Figa cónhota berdolega espanha figa cónhota berdolega espanha! Quem é o vulto preto no corredor da casa? Será ela, meu Deus? Ave Maria cheia de cheia de graça… Rezo em silêncio para espantar o medo. E a lembrança das histórias de ontem à tardinha na soleira da porta, que justo agora teimam em alfinetar-me o juízo, os olhos vidrados daquele anjo de Bia de Silvestra, vocês viram? Coitadinho, apenas um mês e cinco dias! Eu não quero botar falso em ninguém, mas… Olha a boca, comadre!, coitado é esteira e saco de larau. Agora ele está no regaço de Virgem Maria! Ah!, qual estória, o que é verdade tem de ser dito então vocês não viram como ficou o cabelo daquela filha de Tanha de Lombo de Pico? Bastou ela passar a mão na cabeça da pobrezinha e… E aquela luz que, ‘Ntône Rôbôc viu no outro dia de madrugada entrando pela janela da casa, ahhhann?! Bando de b’jenerentas, o que ele viu foi a luz de grog máfe que ele anda entornando goela abaixo hora sim hora não! A mim, Gregória de Nhô Piduca, ela não mete medo (e o facão riscando a pedra de molar em faíscas de raiva e revolta...)
Era sempre assim, quando passava pela casa de Nhá Josefa, a caminho da escola. Sempre esta angústia e este medo, que só terminava quando dobrava a curva à frente de Nhá Maria d’Antónia, já em Marrador. A pequena asa [sic, mas deduzimos tratar-se não da asa, asa da bruxa pelo simples fato de poder voar através da sua arte, mas sim casa, a casa onde; trata-se de um erro de digitação], coberta de palha-tinguinha, com uma casinha ao lado, ficava mesmo em cima do caminho a alguns metros no topo de um pequeno promontório ali na Boca de patinhas, perfilando-se entre as mangueiras da encosta como sentinela.
Morríamos de medo do olhar de Nhá Josefa, a quem as pessoas diziam ser uma das mais tenebrosas e insaciáveis bruxas daquelas redondezas (Manél de Jóna Chica, entre um grogue e outro, ter visto o rabo de Nhá Josefa entrando pela pequena janela do sobrado, num dia de madrugada quando ia a caminho trapiche de Jôn d’Canda, e que só escapou de ser comido vivo porque sacou rapidamente uma mãozada de sal que traz sempre no bolso!). Mamãe brigava feio comigo por acreditar nessas leviandades. Que ela era uma mulher de bem, que ninguém tinha o direito de levantar essas calúnias, que essas coisas de bruxa não existiam, etc. etc. Uma vez até levei umas varadas quando recebeu queixume de que eu tinha fugido em correria desastrada de Nhá Josefa, como se ela fosse gongon (na verdade ela me tinha chamado, para levar um recado à minha mãe – como vim a saber depois – mas o pavor levantou-me os pés do chão e voei ribeira abaixo, parando apenas quando cheguei à esquina da casa de Jóna Tosa em fajã de Trás…)
Anos depois regressei à ilha, homem feito e já sem medo de bruxas. A Electra já tinha acabado com as bruxas e gongons no fundo dos caboucos, e, numa das caminhadas pelo valecom omeu irmão mais velho, fui encontrar Nhá Josefa descansando à sombra das mangueiras debaixo da sua casa. Parei ali com ela alguns minutos numa alegre cavaqueira, ela espantando-se pelo menino cabeçudo que sempre por ela passava a correr (ah se adivinhasse porquê!!) e agora tinha virado homem louvar-a-Deus! Fui caminhando depois pela mesma estrada empoeirada da minha adolescência, sorrindo em silêncio… (Dias, 2006, p. 29)
Essa estória de Nhá Josefa fala dos atos de bruxaria no Vale da Ribeira da Torre, Santo Antão, atos que segundo Manzanares (s.d., p. 43) têm um “carácter fantástico e medonho”. E isso se explica,
…pelo facto de serem resultantes da crença e prática relacionadas com supostos poderes mágicos de algumas pessoas com o objectivo de alterar o curso normal dos acontecimentos. Cientificamente ainda que alguns historiadores se inclinem para considerar a bruxaria como fragmento de uma cultura matriarcal, a maioria prefere interpretá-la como um fenómeno de indiscutível oposição ao cristianismo. O facto é que são inegáveis a relação da bruxaria com os movimentos esotéricos, ocultistas e satânicos. Tanto a Bíblia como autores cristãos de todas as épocas, indicam o seu caracter maléfico em todas e em cada uma das suas manifestações, bem como da sua impossibilidade de conciliação com o cristianismo. (Manzanares, s.d., p. 43)
Partindo desta impossibilidade de conciliação entre a bruxaria e o cristianismo (catolicismo), religião oficial do colonizador, podemos, então, afirmar que esta crendice na bruxaria e que no passado se apoderou do povo de Santo Antão, é uma tradição que nós herdamos dos escravos vindos da África e que foram trazidos entre os séculos XVIII-XIX pelos senhores, diretamente da ilha de Santiago, para trabalharem nos campos em Santo Antão, por exemplo nas terras de regadio e sequeiro da Ribeira da Torre, onde, como veio residir Nhá Josefa.
A bruxaria, fetiséria, como escreveu Tomé Varela da Silva (1998) era “uma crença com bastante peso na sociedade cabo-verdiana, décadas atrás. Hoje, já quase ninguém acredita na realidade da sua existência, que antes era tida como um facto quase indiscutível por muita gente” (p. 158).
Minucia ainda o autor supramencionado vários espetos importantes desta crendice, que pela variante do crioulo por ele empregue em seu texto citado em baixo, deduzimos que são aspetos da bruxaria típicos da tradição de Santiago, mas válidos, igualmente, de Santo Antão à Maio e de Fogo à Brava. E nos aventurando, sem medo dos ‘fetiseru’ ou ‘fetisera’, "figa cónhota berdolega" passamos a esclarecer o seguinte:
… era-se ‘fetiseru’ ou ‘fetisera’ (homem ou mulher) independentemente da vontade própria. Pois acreditava-se que se nascia ‘fetiseru’ ou ‘fetisera’, por uma espécie de hereditariedade. Filho ou filha de pai ou mãe ‘fetiseru’ tinha uma tend~encia (que se diria natural) para ser também ‘fetiseru’. Em casos em que isso não acontecia, tornava-se necessário uma proteção especial ao recém-nascido por parte do progenitor não ‘fetiseru’. Caso contrário, o ódio do progenitor ‘fetiseru’ sobre a criança seria certamente fatal para ela: seria ‘comida’ por ele. Acreditava-se que se podia dar o caso de um casal de ‘fetiserus’. O casal seria muito harmonioso (ao contrário do que aconteceria quando um elemento do casal não fosse ‘fetiseru’) e muito dificilmente teria um filho não ‘fetiseru’.
‘Comer’ uma criança ou uma pessoa qualquer (por um ‘fetiseru’) consistia numa habilidade própria de ‘fetiserus’ em reter (‘pega’) o espírito dessa pessoa fora dela. Como se crê que o espírito é vida, o facto de separá-lo do corpo acabaria por, em mais ou menos tempo, provocar a morte da pessoa visada. Então, o próprio corpo da pessoa serviria de alguma forma de manjar do ‘fetiseru’.
Para proteger uma criança contra um ‘fetiseru’, de vários estratagemas lançavam mãos: cruzes desenhadas com ‘leite’ de babosa na testa, no peito, nas costas, nas palmas das mãos, nas plantas dos pés, lavar a criança com urina fermentada (de preferência urina da mãe)[iii]; pôr dependurado ao pescoço da criança dentes de alho; esfregar a criança com alho; prender a criança determinados amuletos, etc. Tudo coisas que o ‘fetiseru’ detestaria. O adulto protegia-se do ‘fetiseru’ bebendo um puco de ‘leite’ de babosa ou esconjurando sempre que visse em situações ou circunstâncias suspeitas.
A pessoa julgada de ‘fetiseru’ vivia quase sempre socialmente marginalizada, numa espécie de ostracismo individual ou familiar, com o espírito, quase sempre em sobressalto e numa contínua angústia. Com efeito, sempre que se tivesse uma febre nas redondezas era passível de ser acusada com estando na origem daquele mal-estar; se uma criança adoece de repente e morre, el seria tida como causadora dessa desgraça. […]
Os ‘fetiserus’ seriam portadores de ‘rabu’ (um sinal físico)[iv] que normalmente se localizava em partes do corpo menos expostas (de preferência em três sítios: junto do ânus – seria o mais habitual; na cabeça – entre os cabelos; e num dos olhos – sinal lembrando unha de gato). Podia tomar diversas formas (de gato, de boi, de carro, de qualquer outra coisa possível ou imaginária) com o fito de espantar pessoas, sobretudo a noite. Acreditava-se que quando uma pessoa se espanta, o seu espírito deixa-lhe o corpo por momentos. Seria então uma oportunidade excelente o ‘fetiseru’ lhe reter o espírito, que ficaria sem voltar ao corpo se para o ‘fetiseru’ não viesse a ‘largá-lo’, provocando assim a morte da pessoa em causa.
Acreditava-se que, desde o começo da noite até à meia-noite, os ‘fetiserus’ podiam entrar em ação ordinária. Para isso, depois, de besuntarem por três vezes seguidas os respectivos sovacos e virilha com um óleo próprio que costumavam guardar religiosamente em ‘bolis’(cabaças), dizendo: […] por cima de todas as árvores, excetuando […] canaviais[v] […], os seus espíritos deixariam os respectivos corpos (que ficariam na cama aparentemente inanimados), não sem antes serem convenientemente destripados e guardados em sítios onde não podiam apanhar terra.
Os espíritos dos ‘fetiserus’, ao deixarem, o corpo, esvoaçariam como passarinhos e poderiam ser vistos por qualquer como sinais luminosos deslocando-se no ar, de um lado para outro. Mas, mal se pousassem, as luzes desapareceriam. Se nesse esvoaçar fossem apupados, voltariam em direcção à pessoa que os apupou com a intenção de lhes fazer mal. Se a pessoa que os apupou entrasse para dentro de casa, o espírito apupado pousar-se-ia sobre a casa e faria uma série de desacatos para punir a pessoa. Se entretanto, a pessoa tiver dentro de casa tiver dentro de casa um caule de canavial [‘Karis] aguçado e ao espetar (de baixo para cima) no teto da casa enquanto o ‘fetiseru’ lá se encontrar, este ficaria preso pelo tempo que o canavial se mantiver espetado no tecto. Seria uma das formas de ‘pegar’ (prender) o ‘fetiseru’ que, com o amanhecer, chamaria a si o corpo e se transformaria na verdadeira pessoa que era, revelando assim publicamente sua verdadeira identidade. Mesmo assim só desceria da casa quando o espeto fosse retirado do tecto. […]
Para certificar de que alguém era ‘fetiseru’, acreditava-se que se poderia socorrer de alguns estratagemas: a) dar de beber a esse alguém e ao receber de volta o recipiente em que bebeu, emborcá-lo (a pessoa só iria daí, quando o recipiente fosse desemborcado); b) esse alguém entrou em casa de outrem para cavaquear ou por qualquer outra razão: se o dono da casa pega numa agulha de coser e espeta-a no batente da porta para onde aquela terá de sair, essa pessoa, não deixa a casa enquanto não se retirar a agulha do batente. também, se acreditava em determinadas orações para o efeito. Neste caso, o ‘fetiseru’ só é ‘solto’, quando a pessoa que o ‘pegou’ [amarrou] ‘desfazer’ (rezar do fim para o princípio) a oração. (Silva, 1998, 158-161)
A propósito de alguns dos aspetos que nutrem esta crendice na ilha de Santo Antão, segundo Rocha (1990, p. 104), existe um que permitia as pessoas acreditar nos “poderes mágicos existentes em certas famílias, como as feiticeiras, as bruxas e os fadários. As feiticeiras traziam atrás um rabo e quando voavam a noite emitiam luzes”. Como diz o próprio autor,
Reuniam-se geralmente às sextas-feiras no campo, Curral da Ruça, e tinham que ir buscar o Miguel Benedito, célebre curandeiro, para lhes cortar o rabo, arremessando um compasso –, o compasso de nhô Miguel Benedito[vi].
As feiticeiras mais perigosas, dizia-se, possuíam sete artes e quando qualquer chegasse a nossa casa e pedisse água, ficava amarrada se a gente emborcasse o copo por onde tinha bebido. Só se ia embora quando a gente desemborcasse o copo. (Rocha, 1990, p. 104)
Fernandes (1998) diz que em Santo
Antão, mais concretamente na zona de Corda, as bruxas “levantam vôo,
fop-fop-fop! Rumo ao Curral da Russa, uma região montanhosa, situada a Oeste da
Ilha” (p. 20). Sobre a crendice no bruxedo, suas peripécias, incidentes, sequelas
e desmistificações da parte da população nas várias localidades desta ilha, pela
pena dessa autora, ficamos a saber muita coisa. Diz ela:
Antes
de as bruxas saírem em direção aos destinos, são chamadas pelo ‘pontador’,
depois de se verificar se todas elas estão presentes.
Esvoaçando
de covoada em covoada, bordeira em bordeira, as bruxas chegam mesmo a atingir
grandes altitudes. Nunca são distinguidas fisicamente, pois na altura do
levantamento do vôo, desprendem-se em forma de ‘pé de vente’, deixando contudo,
rastos de lume, aqui e acolá.
Os
rabos das bruxas, sempre que possível, são extraídos por Nhô Pidrin, homem
sobejamente conhecido nessas andanças de ‘corta-rabo’. O rabo, nunca é decepado
ou arrancado violentamente, já que está diretamente ligado ao ânus, através de
um tubo que se desenrodilha facilmente.
Existe
também o ‘compasso’, que vai determinar a posição do referido rabo. Com esta
operação a bruxa nunca mais volta a voar e os distúrbios que possa provocar,
são de pouca monta.
Porém,
é importante estar-se alerta, aquando do nascimento das crianças, rigorosamente
sete dias e noites, evitando-se que elas sejam arrebatadas pelas bruxas, logo à
nascença. Estas bruxas que vão avisando, não comerem filhos de pobreza!
Nhanha,
a minha avó, conta que as bruxas ainda para ludibriarem as pessoas, encarnam-se
em ratos, bestas, gatos, centopeias e baratas.
Se se desconfiar desse acto, deve-se logo ‘estamborar’ esses ‘bitche’, antes que danifiquem vidas humanas. […]
Já
Tuda diz […] antigamente, se uma pessoa tivesse ‘fama’, o bruxo era forçado
pelas pessoas, a queimar a rebeca cujo arco fora confecionado co tripa de gato
preto, poi é lá que está toda a ‘desonestraçon’.
Hoje,
a informação que nos é dada por quem de direito, é a de que, essas faíscas tão
propaladas pela população, pressupõe-se, só são sentidas nos cemitérios,
normalmente pela calada da noite, quando os corpos entram em estado de
putrefacção, provocando as tais faíscas (focus-fatuo).
Nha
Pedrinha que ouvia com atenção, todas estas advertenças acrescenta: afinal,
deixei eu já de compreender Apesar de que a esta nossa ilha, Santo Antão, é
rica em bitche, como canelinha, bejon, capatona, encantado, mossôngue e montes
de bruxas! Já a agora, por falar em encantado, necessário se tornaria
esclarecer, a essa gente, da existência ou não de toda essa ‘bejuneria’, porque
do contrário, ter-se-á de pagar pelo que não se deve.
Isabel
era uma mulher trabalhadora; costurava dia e noite; remendava, fiava, por
encomenda e fazia todo o trabalho de casa, nunca dispondo de uma horinha, para
repousar.
E
quantas vezes ia, noite fora, buscar água à fonte? Uma vez, ou outra, na época
das chuvas, aproveitava para tomar um rápido banho na água das ribeiras, em
pleno silêncio da noite!
A
certa altura Isabel fora surpreendida por um aglomerado de pessoas que a
atacam, tratando-se de bruxa rabiosa, pois uma mulherzinha afastada de casa a
essa hora avançada da noite, claro que fizera contrato com o diabo! Ao
regressar a casa, Isabel fora cercada, espezinhada, enquanto lá ia fazendo
convencer as pessoas da sua inocência, perante uma acusação brutal e estúpida.
A
vizinhança, gente que a conhecia, tentou defendê-la, afirmando ser uma mera
confusão, posto que a senhora sempre fora respeitada por todos, bem conhecida
no meio, sendo uma boa dona de casa; decente, enfim, arrumadinha! Longe de ser
uma bruxa, já que esta é suja e feia!
Todavia,
ninguém se convenceu, pelo contrário, fizeram-lhe ‘figas’, esconjurando-a.
Bastas vezes agarram-na, conduzindo-a à porta da Igreja, onde era espancada com
o fim de a libertar do espírito embruxado. O padre revolteou-se contra essa
conflituosa situação e tentou impor a sua autoridade na qualidade de pároco da
freguesia, chamando a consciência dos cristãos, do grande mal que provocavam e
instalavam no local.
Pouco
tempo depois, Isabel é hospitalizada. Sucumbe e é conduzida à casinha térrea,
mas ossada. A iluminar o caixão, quatro banquetas confeccionadas de tronco de
árvore, suportam as lamparinas a petróleo.
Conduzido
corpo à Igreja, foi a homilia; os responsos, enquanto o padre pedia que se
rezasse um Padre Nosso, para salvação dessa alma. Mas o silêncio e a revolta
fundem-se! Vai daí, Nho Atanázio, fora a de, imediatamente, pôr as bruxas a
dançar, pois enquanto dançavam, não devastavam.
Nhô
Atanázio que trepava uma laranjeira, empunhava o violino e as bruxas,
euforicamente, pulavam e faziam roda cá em baixo, dançando mazurka, valsa,
contra-dança, até cansarem.
Muitas
pessoas questionavam a razão da invasão de tantos feiticeiros em Santo Antão! É
que essas rochas altaneiras, conseguem albergar dezenas e dezenas de bruxas,
dando vazão à sua arte acrobática, largando ‘fatcha de lume’, por todas as
bandas.
Quando
crianças, Nha Felisberta nos contava que verdade, verdadinha, nunca existiam
bruxas. Mas o problema é que para apanhar lenha na merada , semear milho e
feijão, coroar, sachar, mondar; guardar corvos e pardais; apanhar cagarras,
terão de andar noite inteira, transportando fatcha de lume, ao menos para não
caírem nos ‘pedôrom’.
Mesmo
assim as pessoas podiam ser agredidas à catana, quando saíam à casa de um dia
de jornada, para sustento da casa. Foi o caso do hoem de Nha Felisberta que
chegara a casa com o corpo ‘espancadeado’.
Pobre
do homem que se foi esmirrando; ‘corpo esmurce’, até morrer!
Quanto a Nho Junzin Curandér, ao ser chamado de urgência, é tão somente para nos ajudar a defender dos vizinhos, que nos trazem sempre ódio e malquerênça. De imediato ele invoca o nosso anjo da guarda, enquanto consulta o 'lumiador', que é um instrumento em vidro e cristal. Este, em contacto com o sol, permite ao curandeiro descobrir algo à volta da aura do sujeito em questão, verificando-se desta maneira, se a pessoa está limpa de corpo e alma. Recomenda ainda o curandeiro, que se misture alecrim, eucalipto, contra-peçonha e gotas do líquido de babosa, a um pequeno feixe de cabelo de cinta; este depois de reduzido a pó, tomar duas colheres de chá dessa substância de manhã e à noite. Também que se enterre à porta da casa, uma garrafa de xarope , confeccionado com vinho quinado, arruda, alho, sementes de mostarda; tomar três vezes ao dia (colher grande). (Fernandes, 1998, pp. 20-24)
Determina um tal ditado popular espanhol que “eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem”. E se existem, figa konhóta berdoléga espanha, figa konhóta berdoléga espanha, figa konhóta berdoléga espanha! Nôs ê morgôs, bzôt n’den puder k’nôs… pê frent ê k’te kémin, n’óra de Deus!
Após esses esconjuras de afugentar bruxas, temos a dizer que há bons anos atrás, acreditavam em Santo Antão, que deveras existiam bruxas nas diversas localidades da ilha. Quando nascia uma criança, sete dias depois, os pais junto dos familiares e vizinhos tinham de fazer a guarda-kabésa, para a proteger das bruxas, criaturas estranhas que, em suas “ações ordinárias”, tendem “comer”, de acordo com “habilidades próprias”, o recém-nascido, retendo (‘pegando’) o seu espírito fora dele, separando-o do corpo, o que acabaria por provocar a sua morte, numa fase muito precoce da sua vida.
Sabe-se que, do nascimento ao sétimo dia probatório da vida do neófito, ele enfrenta as mais diversas dificuldades de sobrevivência, por isso tem de se lhe prestar muitos cuidados, uma vez que estando “nu, desamparado e frágil” (vulnerável), susceptivelmente, podia ser alvo da cobiça de uma bruxa, que voava a noite, desde “Curral da Ruça”, em direção à casa dos pais para o “pegar” dormindo, e assim o poder “experimentar” ou “comer” conforma fosse o caso. Daí que, todo o cuidado era pouco para o defender. A bruxa podia se transformar em animais, por exemplo, gatos, cães, insetos, etc., sendo a sua presença difícil de ser detetada. Fazia todos os seus intentos e usava várias artimanhas com o objetivo de “comer” o recém-nascido na noite do sexto para o sétimo dia após a sua vinda ao mundo.
A festa de guarda-kabésa acontecia na noite do sexto para o sétimo dia após o nascimento de uma criança. Tinha lugar em casa dos pais de cada neófito. Pessoas amigas e vizinhança eram convidadas para tomarem parte no acontecimento.
Mais do que nunca, nesse dia, o neófito tinha de estar sob uma contínua e apertada vigilância da parte da mãe desde o cair da noite, numa tentativa zelosa de impedir a aproximação de uma bruxa (Nhá Josefa, por exemplo, na Ribeira da Torre!) que, decerto, tentaria “comer-lhe” o menino ou a menina. Para tornar mais remota essa possibilidade, punha-se debaixo do travesseiro da cama tesouras abertas, e várias agulhas espetadas no colchão; debaixo da cama, facas, machados, garrafas partidas.
Tomé Varela da Silva (1998) autor supramencionado acrescenta ainda que “Ao redor da cama em que repousa o recém-nascido, algumas vizinhas cavaqueando. Na sala, muita animação e conversa, jogos de carta, comes e bebes” (p. 162). Conforme esse autor,
A certa altura, tudo é interrompido para dar lugar ao […] fazer cristão […] da criança em guarda, numa espécie, numa espécie de prevenção a uma possível morte […] de criança não batizada. Serve de padre qualquer catequista (ou outra pessoa d bem) presente que, derramando água natural sobre a cabeça da criança invoca o nome desta e acrescenta: “eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”. Para padrinhos desse batismo são previamente indicados pelos pais da criança duas pessoas, um homem e uma mulher. No fim da cerimónia do batismo, a animação continua até, à meia noite, altura em que os “fetiserus” [as bruxas] se recohem às suas casas e, consequentemente, a criança de correr o risco de ser “comida”. Nessa altura, as pessoas presentes regressam às suas casas para o merecido descanso a que não são alheios o recém-nascido e os pais deste. (Silva, 1998, pp. 162-163)
De notar que toda a animação na casa da festa de guarda-kabésa, até a meia noite visava criar um clima que afugentasse e desencorajasse qualquer intento orquestrado pela bruxa querendo se aproximar do recém nascido.
O batismo administrado nessas circunstâncias só tem validade, no caso de a criança vir a morrer, antes de ser levada à igreja para a ser de novo batizada e, desta vez, por quem de direito.
Com base nas informações disponíveis em uma monografia que orientamos aquando da realização de um curso de formação de professores e delimitada ao estudo do tema festa de guarda-kabésa na Ribeira Grande, Santo Antão (Medina, 2003), informamos que nesta localidade o ritual de proteção do recém-nascido iniciava-se bem antes do sexto para o sétimo dia. Praticamente começava desde o primeiro dia da vinda do neófito para mundo, porque em muitos casos, coincidia que a bruxa era a própria parteira, o que facilitava, em grande medida, o seu acesso ao neófito, porque ela é que, segundo a tradição tinha de a banhar nas primeiras semanas de vida. E como parteira, conhecia quase todos os cantos da cas dos pais do menino ou menina. Para evitar que a bruxa “comesse” o recém nascido, havia todo um trabalho feito, geralmente, por pessoas experientes, mais concretamente as avós (maternas ou paternos), que faziam de tudo para protege-lo, desde a utilização de plantas protetoras dos males causados pela bruxa (contra bruxa, mostarda, etc.) à utilização de roupas femininas interiores e muito conspurcadas que, a volta do seu corpo, eram colocados. Como garante o próprio autor dessa monografia,
Todos os cuidados eram redobrados na noite do sétimo dia, pois nela definia-se a continuidade da vida da criança ou senão era comida pelas bruxas. A preferência das bruxas era maior se tratasse de uma criança do sexo masculino, pois elas tinham um “sebo” que facilitava as bruxas nas suas artes de voo. Assim, toda a família, os vizinhos e amigos da família trabalhavam em conjunto no sentido de envidar os esforços para poderem salvar a criança do perigoso ataque das bruxas ao sétimo dia após o nascimento.
Neste âmbito cavavam-se alguns buracos em redor da casa onde eram colocadas pequenas porções de sal, mostarda e enxofre misturados. Também uma parte desses produtos era arremessada para cima da casa em forma cruzada. Também no seu interior era geralmente feito o mesmo. Em cima da cama do recém-nascido eram colocadas facas, tesouras, e outros objectos de metal principalmente o aço, sabendo que os mesmos impediam as bruxas de chegarem perto da criança. Ela era envolvida em roupas “intimas” da mãe, e sobretudo escolhia-se as peças mais sujas. A própria urina era armazenada em objectos aproximadamente dois dias antes do sétimo dia e colocada por baixo da cama ou ainda espalhada à volta da casa. Segundo consta, as bruxas gostam mais das crianças que estão bem limpas e bem cheirosas.
Durante essa noite elas eram afugentadas variadíssimas vezes recorrendo ao seguinte esconjuro: “figa canhota berdolega, mar de Espanha e bô tem oi mau. Bê pe pregue d’mar vermei...”. Este era feito como forma de afastar a criança dos proeminentes perigos. (Medina, 2003, pp. 29-30)
O
rigor no ‘guarda cabeça’, deve ser tanto mais redobrado, quando a criança nasce
‘beteóde’. Esta nasce envolvida numa sarraia e logo que cortado o umbigo, a parteira retira-a do invólucro. Distingue-se perfeitamente do menino normal,
pois o beteóde, mal sai da sarraia, momentaneamente trepa a parede do quarto
onde nasceu, seguindo rumo ao tecto; porém nunca se deve impedí-lo desse
trajecto, não vá o menino atrapalhar-se e ficar ‘nocente’ por toda a vida.
(Fernandes, 1998, p. 21)
Essa noite de 'guarda cabeça' também tinha um outro interesse. Com o objetivo de manter as pessoas acordadas e de vigília, era organizado uma festa com todos os elementos da família e amigos. Era preciso fazer muito barulho de forma a afugentar as bruxas e manter acordado os participantes nesse ritual. Para isso nada melhor do que degustar comes e bebes, fazer tocatinas e lançar-se ao baile até o romper do dia.
Todas essas cerimónias e divertimentos eram necessários para a defesa do recém-nascido, pois segundo a crença popular se não os fizessem, em muitos casos, a sua vida não passaria do sétimo dia. Daí a urgente necessidade de protegê-lo nessa fase crucial da sua existência.
Bibliografias e Referências
Barros, A. (1961). África. Cabo Verde: o que se viu, o que se disse, o que se cismou, de 1952 para cá. Lisboa: António Barros.
Cabot, L.; Cowan, T. (1992). O poder da bruxa: a terra, a lua e o caminho mágico feminino. Rio de Janeiro: Campus.
Carvalho, M. A. S. (2004). O Objecto e a Escrita. Praia: Instituto da Biblioteca Nacional e do LIvro.
Dias, P. (2006). Gentes das Ilhas: 61 “estórias” enquanto sono não vinha. Praia: CV Telecom.
Fernandes, M. P. R. M. (1998). Os contos da Paula. Mindelo: Gráfica do Mindelo.
Manzanares, C. V. (s.d.). Dicionário de Seitas e Ocultismo. Coimbra: Verbo Divino.
Medina, J. N. L. (2003). A Festa de Guarda-cabeça na Ribeira Grande – uma contribuição para o seu estudo. Praia: ISE.
Morin, E. (2003). A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand.
Pesavento, S. J. (s.d.). História & História Cultural. Acedido online em: ttps://www.passeidireto.com/arquivo/6688920/pesavento-sandra-jatahy-historia--historia-cultural - Data de acesso: 24-03-2016.
Rocha, A. (1990). Subsídios para a História da Ilha de Santo Antão (1462/1983). Praia: Imprensa Nacional de Cabo Verde.
Silva, T. V. (1988). «Crenças e religiões». In: Descoberta das Ilhas de Cabo Verde. AAVV. Parte II / Tema 3. Praia: Arquivo Histórico Nacional (Cabo Verde). pp. 153-175.
Notas de fim
[i] Expressões em Latim, que traduziremos, para a língua portuguesa em momento oportuno, na altura da abordagem da festa do miron (Divino Espírito Santo). Esta foi uma forma cingela que encontramos para homenagear Nho Bintin pelos seus Apontamentos manuscritos sobre a Novena do Divino Espírito Santo, um espólio documental gentilmente facultado pelo malogrado filho (Manuel Bintin). Nho Bintin foi um dos promotores da festa do miron na ilha (Vila Ribeira Grande, Tarrafal, Capela de São Miguel, Irmandade da Costa Leste. Morreram, mas ficou connosco a obra. E mais adiante falaremos dela, na altura da abordagem dessa festa.
[ii] Como narrou Paulino Dias (2006, p. 29), autor supramencionado, em sua estória de Nhá Josefa, a propósito da visualização desse sinal físico (rabu da bruxa) “Manél de Jóna Chica, entre um grogue e outro, ter visto o rabo de Nhá Josefa entrando pela pequena janela do sobrado, num dia de madrugada quando ia a caminho trapiche de Jôn d’Canda, e que só escapou de ser comido vivo porque sacou rapidamente uma mãozada de sal que traz sempre no bolso!”
[iii] Kem tem sê m’nin gurdim… dél bonhe n’urina tchôk, oh séb, oh séb, oh séb! Basta visionar o vídeo da peça "Rabo da Bruxa" do grupo teatral Juventude em Marcha para perceber disso. E com essa cantiga de embalar a criança e ao mesmo tempo esconjuro, as bruxas fugiam como o “diabo a correr da cruz”.
[iv] Não é só Ribeira da Torre que tem a má fama de local de bruxas. Existem outros locais muito mais famosos, por exemplo: Chã das Furnas, Corda, Garça… Ribeira de Janela, a mais conhecida, através da nossa música. basta ouvir a morna «Papá Juquin Paris», cantada e eternizada pela nossa ‘Diva dos pés descalços’, Cesária Évora, cujas origens são de Santo Antão. Soubemos, há bem pouco tempo que a Mãe dela era da Ribeira da Torre, zona ‘Varginha’, o que nos orgulha muito.
[v] Plantações de caniço, como se diz na nossa ilha ‘merada de cana de cariço’. Com esta planta daninha à agricultura, fazia-se a cestaria e esteiraria (artesanato), mas também os principais amuletos contra a bruxaria: ‘slomon’ (para lhes afugentar no dia da festa de ‘guarda-kabésa’) e ‘compóss’ (para lhes decepar o rabo quando estiverem voando).
[vi] Pela biografia de Agostinho Rocha, crê-se que este curandeiro tenha existido no vale da Ribeira Grande, Santo Antão, onde ele é natural e viveu a sua infância ouvido estórias da boca dos mais antigos.
OUTROS TRILHOS DE HISTÓRIA DA ILHA DE SANTO ANTÃO (II): Festa de Batizado para "conduzir a criança de uma mãe a outra" e como motivo de receção de "sonts oi".
Há mais de uma década, António Correia e Silva, auto definindo como “um sociólogo seduzido pela história”, ao ser entrevistado pelo jornalista José Vicente Lopes (2004, p. 205), quando questionado por esse grande profissional da comunicação social “se os caboverdianos tratam bem a sua história”, sem titubear e nem papas na língua, responde que “Os caboverdianos não acarinharam muito a história que têem”. Fundamenta Correia e Silva que essa falta de afeto dos cabo-verdianos para com a sua história deve-se ao facto de o passado ser visto
… como algo a esquecer, na medida em que era um tempo alienante. Era um tempo em que viviamos sobre o domínio do outro, havia uma constante inibição da manifestação cultural, política, e social do cabo-verdiano.
Em Cabo Verde, como em outros países recém independentes, o encontro com a história não ocorre no exacto momento do dia da libertação. Há um hiato. Só agora os cabo-verdianos começaram a pensar mais na história, até porque começaram a dar-se conta que têm valores que precisam conhecer. Mesmo ao nível de uma elite, que tem a responsabilidade de governar o país, começa-se a perceber que só se pode transformar algo que conheça e que é preciso investir no conhecimento.
Investir no conhecimento histórico é, de certo, modo, preparar-se para o desenvolvimento, porque o conhecimento do passado é um imperativo da transformação do futuro. Uma história que esclareça o país e mostre as origens ou a lógica de detrminados constrangimentos ou potencialidades. Aliás, este fenómeno tem sido, mais ou menos, universal, e está na base do novo interesse pela história. (Lopes, 2004, pp. 205-206)
Baseando nas ideias expostas no trecho que acabamos de transcrever, afirmamos que a nossa aposta no desenvolvimento do projeto Outros Trilhos de História da Ilha de Santo Antão através destes artigos «postados» no blog, é um meio que encontramos para atingir um fim: investigar sobre a nossa história no domínio cultural para efeito de reconciliação com o passado.
Como dizem os mais velhos, na vida «tudo tem o seu tempo e há um tempo para tudo». A propósito do tempo para fazermos as coisas, pensamos que este é o tempo certo de começarmos a dar o nosso contributo pessoal, investindo no conhecimento da história da ilha que nos viu nascer, visando a transformação do futuro. Para esse resultado, escolhemos a cultura cabo-verdiana como Bildung do historiador, mas delimitado às dinâmicas e aspetos culturais da ilha de Santo Antão.
Com o nosso investimento nesse domínio da história, pretendemos esclarecer as pessoas e mostrar-lhes outras perspetivas e abordagens sobre a realidade da ilha de Santo Antão. Igualmente, mostrar-lhes as nossas potencialidades no campo do Labor histórico e a nossa paixão pela história cultural, mesmo não tendo formação académica de raiz e ou especializada em história.
O nosso trabalho delimita-se ao campo da história da cultura cabo-verdiana, isto é, ao trama das dinâmicas e dos aspetos culturais locais (ilha de Santo Antão), porque pensamos que hoje, mais do que nunca, é necessário redefinir a
… verdadeira dimensão do “Homem Cabo-verdiano” [a qual requer] uma eficiente participação de todos [os ilhéus] na recolha de dados e na reorganização da sua história a partir dos alicerces (raízes) unificadores do coletivo (a Cultura Nacional), os únicos que facultam o conhecimento exato da intercomunicação dos elementos constitutivos dessa realidade sociocultural. (Filho, 1983, p. 5 grifo nosso).
Com base no trecho que acabamos de citar, declaramos que os temas cujo desenvolvimento temos agendado ao longo da execução desse projeto - Outros Trilhos de História da Ilha de Santo Antão -, é uma forma que encontramos para “reorgnização da nossa história”, a partir das “raízes unificadoras da cultura cabo-verdiana” (história cultural nacional), em particular os aspectos e dinâmicas culturais da ilha de Santo Antão (história cultural, regional e local).
Como notaram, em nosso primeiro artigo postado nesse blog, dando início ao desenvolvimento desse tema, fizemos abordagem de alguns aspetos sobre a história regional (local) da ilha de Santo Antão, tais como: descoberta e povoamento, formação social e miscigenação cultural e vida quotidiana numa perspetiva dicotómica, isto é, entre o trabalho (rotina) e o lazer (quebra da rotina). Também notaram, no término da redação desse artigo, que fizemos referência à uma trilogia de festas que se dividem em: celebrações festivas sazonais, cultos festivos e festas aos patronos.
Quanto às celebrações festivas sazonais, temos a dizer que elas são um tipo de festas que marcam as grandes épocas da vida como o nascimento, o enlace e a morte e, como tal, são generalizadas pelos batizados, casamentos e defunções[i]. Estamos falando, concretamente, das suas celebrações segundo os rituais da religião católica apostólica romana e da tradição cultural da ilha de Santo Antão!
Através de alguns “dados estatísticos não oficiais” que tivemos acesso a partir da consulta de duas “fontes documentais escritas” (Albarello et al., 2005) asseguramos que estas celebrações tiveram ocorrência com alguma regularidade nesta ilha entre os séculos XIX e XX.
Segundo Ferrão (1898, p. 78), no ano de 1892, em toda a ilha de Santo Antão, foram realizados 574 batizados, 92 casamentos e 302 funerais. Por seu turno, Rocha (1990, pp. 98-107) nos dá conta de que em 1983 foram realizados 1502 batismos e 76 casamentos canónicos, mas com a particulridade de serem desigualmente distribuídos pelas diferentes freguesias desta ilha (Nossa Senhora do Livramento, Nossa Senhora do Rosário, Santo Crucifixo, São Pedro Apóstolo, Santo António das Pombas, São João Batista e Santo André). Ainda confirma esse autor (Rocha, 1990) que nesse ano faleceram 403 pessoas em toda ilha, sendo os óbitos distribuídos por Concelho do seguinte modo: 152 na Ribeira Grande, 57 no Paúl e 94 no Porto Novo.
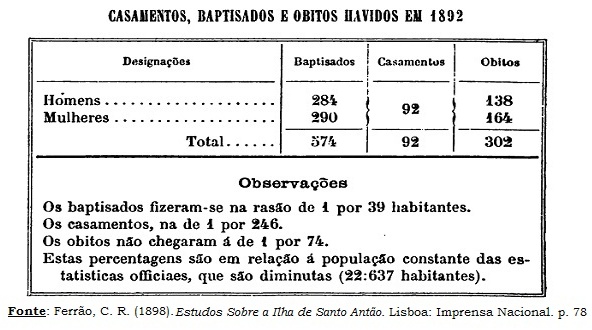
As festas de batizado, casamento e finçon realizadas em Santo Antão e igualmente no resto do país, gozam da particularidade de serem todas manifestações culturais que requerem, não só, a execução de rituais religiosos com “recurso ao sagrado” e, ao mesmo tempo, comportam momentos não religiosos, favorecidos pela pândega, diversão e excessos de toda casta, que se traduzem nos seus aspectos a-religiosos responsáveis pela definição da sua “essência profana”.
Com base em Durkheim (2002), afirmamos que a festa de batizado oscila entre dois pólos. De um lado a cerimónia religiosa (manifestação do sagrado), de outro a comemoração festiva (manifestação do profano). O primeiro pólo faz do batismo uma forma exterior e regular de culto, sendo este o seu momento religioso. E o segundo pólo, faz dele um ato festivo com demonstração de alegria e regozijo, sendo esta a parte laica do batizado.
Podemos classificar o batizado como uma festa que comporta, simultaneamente, momentos sagrados e profanos. Quanto a sua essência, diria Emile Durkheim (2002) que é um misto de sagrado e profano. E um misto de sagrado e profano porque
…possui certos caracteres da cerimónia religiosa, porque em todos os casos, tem por efeito aproximar os indivíduos, pôr em movimento as massas e suscitar assim um estado de efervescência, por vezes até de delírio, que não deixa de se aparentar ao estado religioso. O homem é transportado para fora de si, distraído das suas ocupações e preocupações habituais, por isso observamos, de um lado como do outro, as mesmas manifestações: gritos, cânticos, música, movimentos violentos, danças, busca de excitantes que elevam o nível vital, etc. Notou-se muitas vezes que as festas populares levam a excessos, fazem perder de vista a fronteira que separa o lícito do ilícito e, há igualmente cerimónias religiosas que determinam como que uma necessidade a violação das regras mais respeitadas. Não é que não haja motivo, sem dúvida, para distinguirmos as duas formas da atividade pública, pois o simples regozijo, o corrobori profano, não tem objeto sério, enquanto no seu conjunto, uma cerimónia ritual possui sempre uma finalidade grave. Devemos, seja como for, observar que talvez não haja manifestação de regozijo que não ecoe de algum modo a seriedade da existência, no fundo, a diferença está sobretudo na desigual proporção segundo a qual os dois elementos em causa se combinam. (Durkheim, 2002, pp. 389-390)
Como se pode ver, o autor supramencionado considera o batizado uma festa ambígua. Isto porque possui uma parte sagrada ou religiosa, o culto e outra parte profana ou a-religiosa que requer música, dança, momentos ilícitos e "não sérios".
Parafraseando Van Gennep citado em Filho (1997), classificamos o batismo, enquanto cerimónia religiosa implicando a socialização do indivíduo, como um “rito de passagem”, isto é, uma forma peculiar de culto marcado por certas praxes que acompanham “simbolicamente qualquer mudança cronológica, de lugar ou condição social”. Acrescenta-se ainda, com base no autor que acabamos de citar, que o ritual do batismo pressupõe “uma mudança social, na qual se verifica uma alteração do estatuto de ateu para o de cristão, que […] permite pontuar o real e dotá-lo de um sentido” (pp. 41-42).
No que concerne as festas de batizado em Santo Antão, Agostinho Rocha (1990) por seu turno diz que “eram e continuam a ser atrativos”. Na década de oitenta do século XX, caso não fora “a crise por estiagem e a percentagem de desempregados teria havido mais batismos”. Reitera ainda que as festas de batizado são uma excelente oportunidade de convívio e “revestem-se de muita vida e alegria” (Rocha, 1990, p. 49 e 99).

Dita a tradição cultural que no batizado deve haver um padrinho e duas madrinhas. Porém, em certos casos, o inverso é verdadeiro. E verdadeiro porque há uma madrinha e dois padrinhos. Salienta-se que “a madrinha [ou o padrinho] de dentro […] acompanha o ministério do baptismo, a verdadeira madrinha [ou o verdadeiro padrinho], e a madrinha de porta da igreja [ou o padrinho da porta da igreja] […] que conduz a criança” (Rocha, 1990, p. 49 grifos nossos).
Quanto a origem desse cerimonial religioso, temos a dizer que o batismo é uma instituição religiosa e cultural herdada dos brancos portugueses feitos deslocar das antigas regiões da Metrópole onde residiam, para poderem dar início à exploração económica desta colónia africana e acompanhados dos missionários que também vieram para o arquipélago para efeito de realização conversão e batismo (evangelização) dos escravos considerados pessoas indígenas e não civilizadas (vadios).
Pelo que tudo indica, os homens brancos e esses missionários portuguesas eram pessoas oriundas das comunidades aldeãs das várias regiões do interior de Portugal, onde o batismo era celebrado antigamente conforme a tradição. Portanto, em tenra idade da criança, isto é, nos “sete dias depois de nascida” (Santo, 1990, p. 170).
Este autor ainda expõe algumas ideias sobre um aspeto simbólico-religioso muito interessante que se relaciona com o ritual do batismo católico, o qual sugerimos aqui como um outro mote de leitura e análise dessa festa. Trata-se da “simbólica maternal” que suporta os seus rituais e que se praticam com a finalidade de conduzir a criança “de uma mãe a outra” (Santo, 1990). É por isso que à esta cerímónia religiosa, toda criança tem de estar sujeito. Diz ele que o batismo da criança
Marca o momento em que a comunidade […] depois dos sete dias probatórios, reconhece a existência do novo indivíduo e o adota, atribuindo-lhe um nome […] Rejeitada do seio da mãe, a criança é admitida no seio de uma mãe de substituição, uma vez que nem nessa idade, nem em nenhum momento da sua vida, lhe é permitido viver sem uma segunda mãe. Pelo batismo são-lhe mesmo atribuídas diversas mães: a igreja católica de que o padre é o representante, a comunidade […] de que o cura é o «pai» e cujo templo se chama matriz, e também uma mãe de adoção na pessoa da madrinha. O recém nascido é introduzido no seio dessas novas mães por figuras paternas, o padre e o padrinho. As fontes batismais são em forma de matriz e o oficiante serve-lhe de uma concha autêntica, imagem perfeita do seio da mãe e elemento marinho. Batizar é tocar ou mergulhar o neófito na água, ungi-lo com o elemento amniótico para lhe dar consistência e regenerá-lo depois do traumatismo do nascimento […] A cor do batismo é o branco, a cor do leite, como acontece sempre que se adota uma nova mãe ou se evoca a sua acção… (Santo, 1990, pp. 170-171 grifos meus)

Ainda destaca esse mesmo autor que o ato do batismo católico possui uma função social. A realização desse cerimonial implica que a criança seja
… adotada por duas outras famílias, a do padrinho e a da madrinha, que a acolherão em caso de necessidade. O apadrinhamento é uma […] instituição social que emana de um rito religioso mas se autonomiza em relação à religião. Como o compadrio que lhe está ligado, tem por função alargar a família e integrar os indivíduos não ligados pelos laços de sangue. Os laços entre o padrinho e o afilhado são idênticos aos que unem pais e filhos, e criam relações fraternais entre os diversos padrinhos/madrinhas (tornando-se entre si compadres/comadres), além de criarem a obrigação de substituírem os pais carnais no caso destes morrerem antes da criança chegar a idade adulta […] O padrinho e a madrinha dispõem de autoridade sobre os afilhados, como se fossem seus filhos, e aqueles devem saudá-los, quando os encontram pela primeira vez em cada dia, por uma fórmula ritual – igual a usada pelos pais – que corresponde a um pedido de bênção[ii]. A ligação por apadrinhamento integra o padrinho e a madrinha numa rede muito extensa de compadres/comadres que [unam-se] […] pelos laços da fraternidade: se sou padrinho num batizado, torno-me compadre dos pais, dos avós, da madrinha e do seu marido, da parteira (a vizinha que ajuda no parto) e do seu marido, dos outros padrinhos e madrinhas futuras e dos seus cônjuges respetivos. (Santo, 1990, p. 171 grifos meus)
O ato do batismo, segundo Rocha (1990, p. 99) implica “muita festa e para que haja festa tem de haver comida e bebidas”. Tomando esta a condição da festa, o batizado pode ser classificado segundo R. Caillois (1988, p. 96) como uma “festa alegre por definição” onde há muita fartura porque comporta “princípios de pândega e excessos” que se traduzem na “ingestão de comida e bebida”.
Além de participar nessa parte da festa os compadrinhos (atores), também participam os vizinhos, conhecidos e convidados (espetadores) que, solicitados pelos pais da criança ou pelos padrinhos, se juntam para festejar, recebendo os Santos óleos[iii], seguido de festa rijo. Outrora, essa festa era ambientada com bailes ao som do violino, viola, violão, viola e bic e dançava-se contradança, mazurca, galope, chotice, valsa, pas-de-quatre, vira e landum. Eram bons tempos!
Referências Bibliográficas
Albarello, L. et al. (2005). Práticas e Métodos de Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva.
Caillois, R. (1988). O Homem e o Sagrado. Lisboa: Edições 70.
Durkheim, É. (2002). As Formas Elementares da Vida Religiosa. Oeiras: Celta.
Ferrão, C. R. (1898). Estudos Sobre a Ilha de Santo Antão. Lisboa: Imprensa Nacional.
Filho, J. L. (1983). Por Uma Política Cultural. Ponto & Vírgula, 2.
Filho, J. L. (1997). O Corpo e o Pão - O Vestuário e o Regime Alimentar Cabo-verdianos. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras.
Lopes, J. V. (2004). A explicação do mundo. Praia: Spleen.
Rocha, A. (1990). Subsídios para a História da Ilha de Santo Antão (1462/1983). Praia: Imprensa Nacional de Cabo Verde.
Santo, M. E. (1990). A Religião Popular Portuguesa. Lisboa: Assírio & Alvim.
[i] Festas tristes por definição e que em Santo Antão costuma-se chamar finçon.
[ii] Antigamente pelo Natal ou Fim de Ano os afilhados iam à casa padrinhos e madrinhas tomar bênção. Levavam encomendas e traziam prendas ou dinheiro oferecidos pelos padrinhos e madrinhas. Era um dia de muita alegria, liberdade e aguardado com bastante expetativa.
[iii] Em crioulo típico de Santo Antão diz-se “Sontes oi” que significa comerem e beberem a sua parte da festa. Ao fim ao cabo, trata-se de uma patuscada de comes e bebes (pândega).
OUTROS TRILHOS DE HISTÓRIA DA ILHA DE SANTO ANTÃO (I): Preâmbulo
Como já tivemos oportunidade de afirmar, um dos principais objetivos do uso desta "ferramenta web 2.0" é divulgar trabalhos de pesquisa e reflexões pessoais (artigos) sobre temas das diferentes áreas disciplinares das ciências sociais e humanas, mais concretamente, história, filosofia e pedagogia ou ciências da educação.
Com relação a estas três áreas do saber, é na última, isto é, na história, onde enquadramos todos os artigos que pretendemos produzir no âmbito do longo desenvolvimento dos vários temas integrados num primeiro projeto de investigação sem formalidades académicas, que se designará doravante por «Outros Trilhos de História da Ilha de Santo Antão».
Mas, os outros trilhos de história da ilha de santo Antão que pretendemos percorrer, são o reverso daquilo que J. Alvares Pereira (1988), um investigador autodidata português sobre questões de história local e regional portuguesa, ousou denominar por “história dos grandes feitos que todos contam” (p. 29).
Contrariamente a esta tendência da história, o nosso trabalho histórico vai de encontro a uma outra tendência. A tendência que faz da história um estudo dos pequenos feitos contados por uns poucos. Trata-se de uma história sobre os pequenos lugares, tendo a cultura como campo de estudo. Daí o seu enquadramento no campo da "história cultural".
História cultural é um novo caminho da história por onde queremos passar, traçando, assim, um novo rumo à história, um rumo que segundo a autora brasileira S. J. Pesavento (s.d., p. 66) nos permite explorar como “temas e objetos" elementos simbólicos como " ritos e festas, mitos e crenças, sociabilidades e atitudes mentais ou mesmo a incorporação da história material pela cultura, ou ainda o ingresso […] no campo das identidades”. Acrescentaríamos ainda, com base em M. Rubin (2006), que trata-se de uma nova maneira de fazer história. Afirmaria este autor que se trata de "uma história que deve tocar as massas e não as elites" e com a qual o historiador (seja ele amador ou profissional!) explora "as suas fontes ricas" e encontra "corpos: envolvidos em atividades lúdicas e rituais, rezando, trabalhando, sofrendo" (pp. 113-115).
Como se pode ver, nestes dois autores supramencionados (J. Pesavento, s.d. & M. Rubin, 2006) estão as bases epistémicas que nos permitem suportar cientificamente esse estudo. Trata-se de um estudo sobre vários aspetos da história cultural da ilha de Santo Antão, que percorrendo os seus diferentes trilhos tentaremos contar sobre feitos e realizações como: sua descoberta e povoamento; formação social e miscegenação cultural; vida quotidiana (trabalho e lazer); crenças, ritos e mitos locais (regionais); festas e outras manifestações do folclore típico da ilha, tendendo sempre a retratar a vivência do povo em um tempo recuado, mas não muito distante - séculos XVIII-XX.
Sem mais delongas, começamos por dizer que Santo Antão é uma ilha do Arquipélago de Cabo Verde perdida no Atlântico e, geograficamente, é a mais próxima da Europa, de onde lhe veio uma boa parte da sua cultura, com alguns vestígios da África, trazidos pelos escravos que a ela aportaram aquando do seu povoamento e volvido uns tempos depois da sua descoberta (achamento).
 Imagem 1 - Mapa da Província do Insular de Cabo Verde conforme as descrições de Lopes de Lima (1844), posteriormente corrigido e publicado por Cha. Wilson em Londres no ano de 1861 e no mesmo ano em Lisboa.
Imagem 1 - Mapa da Província do Insular de Cabo Verde conforme as descrições de Lopes de Lima (1844), posteriormente corrigido e publicado por Cha. Wilson em Londres no ano de 1861 e no mesmo ano em Lisboa.
Com relação a data do seu achamento, António J. Maurício (2015) em sua monografia sobre a História da Vila da Ribeira Grande de Santo Antão num período compreendido entre 1732-1975, escreve que, embora seja difícil situar com precisão a data da descoberta das ilhas do arquipélago de Cabo Verde,
… pode admitir-se, de acordo com os documentos oficiais [cf. Carta régia de 3 de Dezembro de 1640, in Vitorino Magalhães Godinho, Vol. III, Lisboa, 1956, p. 276-278], que teve lugar entre os anos 1460 e 1462. A ilha de Santo Antão, só se encontra mencionada na carta Régia de 19 de Setembro de 1462 [cf. Vitorino Magalhães Godinho, Vol. III, Lisboa, 1956, p. 279-281], juntamente com as ilhas de S. Vicente, S. Nicolau, S. Luzia, e Brava. Se considerarmos os topónimos destas ilhas e as datas do calendário religioso que coincide com o nome de “Santos” (São Nicolau, 6 de Dezembro; Santa Luzia, 13 de Dezembro; Santo Antão, 17 de Janeiro, São Vicente, 22 de Janeiro) pode-se concluir que elas firam descobertas entre Dezembro de 1461 e Janeiro de 1462. A celebração do dia do Padroeiro da ilha a 17 de Janeiro, confirma a data do seu achamento, referenciado pela tradição oral. Depois da descoberta, a ilha foi aproveitada para a criação de gado e […] [à ela] se deslocavam para preparação dos sebos e peles que eram exportados pela metrópole. (Maurício, 2015, pp. 12-13 grifos nossos)
 Imagem 2 - Carta da Ilha de Santo Antão, 1887. Fonte: Medina, G. A. (2013). A Ilha de Santo Antão (Cabo verde) através dos mapas da Comissão de Cartografia (1883-1932).
Imagem 2 - Carta da Ilha de Santo Antão, 1887. Fonte: Medina, G. A. (2013). A Ilha de Santo Antão (Cabo verde) através dos mapas da Comissão de Cartografia (1883-1932).
Sobre o povoamento desta ilha, Rocha (1990, p. 125) afirma que este não se processou imediatamente a sua descoberta, devido a “dificuldade de penetração” e a inacessibilidade das suas “rochas cortadas a pique” junto ao “mar de ondas imponentes” e por falta de “caminhos de penetração”.
Pelo que foi possível constatar através da consulta de algumas fontes documentais escritas, o povoamento da ilha foi tardio, sendo difícil indicar com exatidão a data em que se iniciou. Há, portanto, uma imprecisão nas datas, bem visível nas declarações de alguns autores, todos naturais desta ilha.
Entre eles, Agostinho Rocha (1990) um empírico investigador sobre a história local (regional) de Santo Antão, garante em suas memórias históricas sobre Santo Antão, que “O povoamento da ilha foi iniciado em 1462” (p. 14).
Uma outra investigadora, historiadora de formação e como tal detentora de maior crédito científico nesta área (Ferro, 1998), tomando como referência o Pe. António Brásio, surge afirmando em sua citação que “na primeira década de 1600 a ilha era ainda despovoada e que nela não havia mais do que gado” (p. 19). Além disso adianta a própria autora que Santo Antão “ainda em 1610 era despovoada” confirmando igualmente que “devemos concluir que a sua colonização só se iniciou depois de quase um século e meio” a sua descoberta em 17 de Janeiro de 1462.
A nossa última fonte, António J. Maurício (2015), que fazendo uso das suas valências científicas em matéria de investigação, na área de história local (regional) da ilha de Santo Antão, parte dos acervos documentais deixados por notáveis estudiosos e investigadores sobre a História de Cabo Verde (O. Ribeiro, 1995; S. Barcelos, 2003; A. Brásio, 1958) para situar o povoamento desta ilha “entre os finais do século XVI e início do século XVII” (p. 13).
Admitindo que o povoamento de Santo Antão tenha-se começado quase um século e meio após a sua descoberta, mais precisamente nos finais do século XVI e início do século XVII, podemos acrescentar que este processo foi iniciado, nos primeiros tempos, a partir da Povoação de Santa Cruz, posteriormente elevada a categoria de vila em 1732 - Vila da Ribeira Grande.
 Imagem 3 - Vista da Povoação da Ribeira Grande na ilha de Santo Antão (1864, aprox.). Fonte: Medina, G. A. (2013). A Ilha de santo Antão (Cabo verde) através dos mapas da Comissão de Cartografia (1883-1932).
Imagem 3 - Vista da Povoação da Ribeira Grande na ilha de Santo Antão (1864, aprox.). Fonte: Medina, G. A. (2013). A Ilha de santo Antão (Cabo verde) através dos mapas da Comissão de Cartografia (1883-1932).
O processo de povoamento efetuou-se com brancos europeus e escravos afro-negros. E na confirmação disto, Ferro (1998) historiadora já mencionada, diz que a ilha de Santo Antão
… foi primeiramente povoada por algarvios [sendo estes os primeiros colonos portugueses que fixaram residência nesta ilha] e africanos vindos de Santiago, a que se juntaram ilhéus, madeirenses e açorianos [mas isto dá-se no século XIX] [sic], espanhóis, judeus, norte-americanos, italianos e […] [ingleses e franceses, raças chegadas à ilha depois dos primeiros colonos, devido a benignidade do seu clima com relação às outras ilhas irmãs do arquipélago]” (Ferro, 1998, p. 20 grifos nossos).
A propósito dos primeiros colonos portugueses, além dos algarvios, também temos os alentejanos e minhotos que, segundo Agostinho Rocha (1990, p. 14) “foram enviados” da metrópole para a ilha de Santo Antão a fim de procederem a exploração da “agricultura”. Mas, tendo eles deparado com a escassez de mão-de-obra na ilha, tiveram de importar da ilha de Santiago escravos já ladinizados ou mesmo libertos para trabalharem nessa atividade. Do cruzamento entre os indivíduos dessas diferentes raças formou-se o crioulo mestiço, habitante típico da ilha de Santo Antão.
Por aquilo que acabamos de dizer, reconhece-se, sem motivos para quaisquer ceticismos, que a miscigenação social e cultural é um dos principais aspetos que marca a história cultural da ilha Santo Antão. Isto porque o povoamento da ilha fez-se com gentes de várias proveniências do globo, isto é, portugueses, espanhóis, italianos, franceses, ingleses, norte-americanos, judeus ou cristãos novos e afro-negros ou escravos. E das relações entre os indivíduos dessas diferentes raças nasceu uma sociedade autónoma, diferente da das outras irmãs, nas tradições culturais, costumes e festas que caracterizam especificamente o povo desta ilha.
Passando agora para o tópico seguinte deste artigo - vida quotidiana entre o trabalho e o lazer -, temos a dizer que na vida do dia-a-dia percebemos o tempo como uma sucessão temporal entre trabalho e festa (lazer) e, neste suceder, uma diferenciação e mudança de atitude das pessoas entre um tempo e o outro. No tempo de trabalho, uma postura e uma atitude séria, um pouco artificiais. No tempo de festa, uma postura e uma atitude lúdica, alegre, desarmada criativa, natural e espontânea.
A regulamentação do tempo é algo natural. Tiramos da sabedoria popular o que nos mostra a sua natureza. Existem vários e diferentes tempos, isto é, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de celebrar, etc. Igualmente o calendário estabelece e sinaliza o tempo de festa, de descanso, de trabalho e os dias obrigatórios de suspensão do trabalho.
 Imagem 4 - Homens e bois no trabalho de trapiche. Fonte: Lima, A. L. et al. (s.d.). Domila’99 – Homenagem a João Francisco Lima. S.L.: Rosariense / Ministério da Cultura.
Imagem 4 - Homens e bois no trabalho de trapiche. Fonte: Lima, A. L. et al. (s.d.). Domila’99 – Homenagem a João Francisco Lima. S.L.: Rosariense / Ministério da Cultura.
No Arquipélago de Cabo Verde, a propósito de um dos aspetos do tempo de trabalho, houve uma época em que "fez escola" o tão propalado “mito da indolência cabo-verdiana”, um assunto que foi variadíssimas vezes trazido à baila das discussões pelos intelectuais, mas que a partir da década de sessenta do século XX (1960) ficou totalmente desfeito[i].
Na origem desse mito está a pressão exercida pelos colonos sobre os escravos no cumprimento da "rotina do trabalho instituído" e que consideravam negativas certas posturas vindas das práticas espontâneas dos afro-negros agregados em tempo de festa, com a justificativa de que essas práticas podiam prejudicar a produtividade e favorecer a indolência, a lasciva, a devassidão.
Desfazendo esse mito, convém dizer que desde a alvorada dos tempos, na ilha de Santo Antão, sobretudo, a contar a partir do início do seu povoamento, a vida no dia-a-dia quase resumia-se ao trabalho e não havia "tempo sequer para "esfregar nos olhos". Pois, nega isto a ideia de que o santantonense, tal como qualquer outro insular do arquipélago é indolente (pessoa que não gosta de trabalhar) e muito festeiro. Desde essa altura, o tempo de trabalho dos cabo-verdianos, sobretudo dos santantonenses, é investido, sobretudo, no trabalho do campo, na prática da agricultura ou da pesca. Sobre isto, Nogueira Ferrão (1898), autor supramencionado, diz que o povo de Santo Antão é "dotado ao trabalho e à operosidade". Atesta que no tempo de trabalho os homens desta ilha
… occupam-se na cultura das terras […] e na vida do mar; as mulheres […] transportam carga, e numa pequena parte do anno ajudam os homens nos serviços das colheitas e sementeiras, além dos serviços domésticos próprios do sexo. (sic Ferrão, 1898, p. 29 grifos nossos)
 Imagem 5 - Mulher transportando carga à cabeça, ajudando os homens na colheita da cana de açúcar. Pormenor de uma foto acedido online em: http://nosgenti.com/?p=947
Imagem 5 - Mulher transportando carga à cabeça, ajudando os homens na colheita da cana de açúcar. Pormenor de uma foto acedido online em: http://nosgenti.com/?p=947
Antigamente havia mais trabalho porque as chuvas eram mais frequentes e regulares e os terrenos fertilíssimos. Assim a vida decorria normalmente na ilha labutando nos vales e nos campos; nos trapiches, nas meradas, na apanha do café, nas culturas alimentares, na recolha da urzela e da purgueira, na colheita dos frutos. Era essa a vida regular que povo desta ilha levava. Uma vida laboriosa, cujo tempo ocupado no trabalho, sujeita a um sistema de interditos e cheia de (pre)ocupações em que a máxima latina quieta non movere[ii] era a ordem do mundo, um mundo onde vivia o povo desta ilha, tranquilo, sem muitos alvoroços.
 Imagem 6 - Pormenor do Cais
da Ponta do Sol (Boca de Pistola), onde se pode identificar provas materiais de que os homens de Santo Antão também se ocupam da vida ao mar. Fonte: http://www.rutas-turisticas.com
Imagem 6 - Pormenor do Cais
da Ponta do Sol (Boca de Pistola), onde se pode identificar provas materiais de que os homens de Santo Antão também se ocupam da vida ao mar. Fonte: http://www.rutas-turisticas.com
Contudo, em certos momentos a vida do povo de Santo Antão deixava de ser tranquila e tornava-se muito agitada, divertida, alegre e cheio de fulgor. Tudo isto graças aos diversos tipos de festas realizadas na ilha, nas quais integramos não só os tradicionais folguedos mas também todas as manifestações culturais que enformam o ciclo ritual das festas tradicionais desta ilha. Estamos nos referindo ao tempo marcado pela celebração das festas de batizado, casamento, defunção, culto festivo, romaria e/ou festa ao patrono. Portanto, esse tempo representa uma rutura com a s rotinas do quotidiano cingida à sucessão das horas de trabalho nas diferentes localidades e/ou lugarejos da ilha.
 Imagem 7 - Folguedo na Vila da Ribeira Grande, Santo Antão. Fonte: Lima, A. L. et al. (s.d.). Domila’99 – Homenagem a João Francisco Lima. S.L.: Rosariense / Ministério da Cultura.
Imagem 7 - Folguedo na Vila da Ribeira Grande, Santo Antão. Fonte: Lima, A. L. et al. (s.d.). Domila’99 – Homenagem a João Francisco Lima. S.L.: Rosariense / Ministério da Cultura.
Assim sendo, se olharmos, retrospetivamente, para a história cultural da ilha de Santo Antão de acordo com os nossos registos de "história e memória", estes nos revelam o povo desta ilha aproveitando, em tempos idos, os dias de folga da labuta no campo para aliviarem a tensão dos seus “músculos cansados e os corpos cheios de suor” rentados pelo trabalho da lavra, fazendo recurso ao lazer, através de festejos. Este fato é assinalado por Agostinho Rocha (1990) quando diz que, "em seus tradicionais folguedos", os habitantes desta ilha
divertiam-se muito […] e assim faziam os bailes nacionais, com violino, viola, violão e cavaquinho, e nos lugares mais pobres faziam os bailes de «bico» e viola, isto é, cantados para a viola executar; dançavam a contradança, a mazurca, o galope, o chotice, a valsa, o «pas-de-quatre», a vira, o tango e o landum. (Rocha, 1990, p. 50 grifo nosso)
Ainda no que concerne ao lazer, importa ressaltar outras comemorações que também marcam local e culturalmente a ilha e que abrangem todas as manifestações do seu ciclo ritual das festas tradicionais típicas. Diferentes tipos de festas que, segundo o sociólogo da cultura Albini Luchini (s.d., p. 228) podem, em teoria, ser decompostas numa trilogia: 1) Celebrações festivas sazonais; 2) Cultos festivos; 3) Festas aos patronos.
Pois, abordaremos essas diferentes categorias de festas nos próximos artigos ainda enquadrados na apresentação e discussão dos temas do nosso projeto "Outros Trilhos de História da Ilha de Santo Antão".
Referências bibliográficas
Ferrão, C. R. (1898). Estudos Sobre a Ilha de Santo Antão. Lisboa: Imprensa Nacional.
Ferro, M. H. (1998). Subsídios para a História da Ilha de Santo Antão de Cabo Verde (1462-1900). Praia: Inspituto de Promoção Cultural .
Lessa, A.; Ruffié J. (1960). Seroantroplogia das Ilhas de Cabo Verde Mesa-Redonda sobre o Homem Cabo-verdiano. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar.
Lima, A. L. et al. (s.d.). Domila’99 – Homenagem a João Francisco Lima. S.L.: Rosariense / Ministério da Cultura.
Luchini, A. (s.d.).«Ideologias, Crenças Religiosas e Instituições». In: F. B. A. Akoun, Enciclopédia Sociológica Contemporânea - Volume II. Porto: Rés. (pp. 179-242).
Maurício, A. J. (2015). Vila da Ribeira Grande de Santo Antão (1732-1975): Percurso Histórico e Dinâmica Administrativa. Mindelo: IUE - Escola de Formação de Professores do Mindelo.
Pereira, J. A. (1988). «História Local». In: Água Mole – Revista de Cultura Popular. Braga: Grupo de Professores da Escola Preparatória DR. Francisco Sanches. pp. 28-34.
Pesavento, S. J. (s.d.). História & História Cultural. Acedido online em: https://www.passeidireto.com/arquivo/6688920/pesavento-sandra-jatahy-historia--historia-cultural - Data de acesso: 24-03-2016.
Rocha, A. (1990). Subsídios para a História da Ilha de Santo Antão (1462/1983). Praia: Imprensa Nacional de Cabo Verde.
Rubin, M. (2006). «Que é a história cultural hoje?» In: D. Cannadine, Que é a História Hoje?. Lisboa Gradiva. pp. 111-128.
Notas de fim:
[i] Cf. Almerindo Lessa e Jacques Ruffié (1960). Seroantroplogia das Ilhas de Cabo Verde Mesa-Redonda sobre o Homem Cabo-verdiano [Capítulo II, 4 – Segunda Reunião – Tema III: Indolência Cabo-verdiana, pp. 131-138]. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar.
[ii] Em português significa "não agitar o que está sossegado”.
UM APONTAMENTO
Olá C@ros Leitores!
Hoje a internet nos permite editar e divulgar documentos em linguagem texto, imagem e som, e de forma organizada, pô-los à disposição do público. Podemos publicar a partir de soluções sofisticadas ou simples, como as ferramentas para construção de sites pessoais (blogs), publicações voltadas especialmente para o público não especializado em certas matérias. Essa facilidade torna a publicação "online" uma ação bastante difundida nos dias que seguem.
Cremos, do ponto de vista da educação e cultura (saberes), que esta é uma oportunidade de incrementação das habilidades de comunicação académica, tornando as pessoas produtores e editores de conteúdos próprios e de terceiros. Com relação a atividade investigativa, publicar na internet é, para o docente, além de tudo, uma forma de dar maior alcance aos produtos desenvolvidos, sejam estes na e para a sala de aula, como também para além da sala de aula.
Hoje a atividade de publicação contribui para a disseminação do conhecimento e difusão da cultura num mundo que, cada vez mais prospetivo e globalizado, está dependente das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e na superação das distâncias, usando as suas ferramentas.
Tornar público as pesquisas desenvolvidas pelos professores no "ciberespaço" também permite, mesmo em contexto virtual, expressar diferentes realidades, reafirmar questões de identidade, ao mesmo tempo que permite visualizar os contextos localizados e globalizados que caracterizam a era atual.
Mas, para assegurar a qualidade no uso educacional e cultural destes recursos, os profesores têem de se orientar para a construção de um significado próprio da sua atividade de publicação de conteúdos na web, entendendo-a como uma oportunidade criativa e construtiva de interferir em uma rede de comunicação, de partilha, de troca de experiências e intersubjetividade na promoção do «saber-conhecer» e «saber-fazer», dois pilares importantes da educação e formação na era atual, como se diz, uma educação e formação ao longo da vida (ALV).
Em traços gerais, eis, portanto, as razões que se justificam a criação deste blog. Digamos, um canal de partilha de informações, onde pretendemos editar e publicar trabalhos nas linguagens texto, imagem e som, abordando várias temáticas das CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS, cujas áreas de investigação são: FILOSOFIA, PEDAGOGIA / EDUCAÇÃO, HISTÓRIA.
Pretende-se desenvolver três projetos de investigação, um para cada uma dessas áreas acima mencionadas: 1) História - "Outros Trilhos de História da Ilha de Santo Antão"; 2) Filosofia - "Excursos do Meu Filosofar Telúrico"; 3) Pedagogia ou Ciências da Educação - "Escólios Pedagógicos e Outros Textos sobre a Educação".
A denominação "philosogogos", atribuída ao blog, as suas raízes etimológicas, provém de "philos-sophos" (filósofo, amigo ou amante do saber); e paidagogos (pedagogo, mestre, professor).
Portanto, trata-se de um humilde "filósofo-professor-2.0" ou, como queiram, um "professor-filósofo-2.0" que, ousando sair, timidamente, da sua "zona de conforto", cingida há anos às acomodações em contexto da sala de aula real, de braços com currículos e programas (áreas: Filosofia, Formação Pessoal e Social, Direito , Educação para a Cidadania, História e Filosofia da Educação) sujeito às burocracias e demais condicionalismos laborais e contratuais que só o profissional da educação tem e deve, em meu entender, "engolir a seco", resolve, assim, só agora, fazer jus do seu direito de pensamento e liberdade de expressão, partilhando, através deste canal de comunicação, algumas ideias, digamos umas "boas ideias", em prol da disseminação do conhecimento sobre "coisas" da terra que nos viu nascer e outras mais...
O que pretendemos, com esta série de publicações nesse blog, é simplesmente administrar a nossa própria formação contínua enquanto docentes e investigadores, usando as ferramentas AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). Pretendemos, neste sentido, publicar ensaios, artigos e mais outros trabalhos, produzidos a partir das nossas vivências, sentidos, paixões, pensamentos, reflexões e elucubrações, sempre com intuito de fazer ciência sem se romper com o senso comum.
Por estas e outras razões, optamos pela publicação dos nossos textos na "blogosfera" não como forma de atrair atenção para nós, mas como forma de "dar" um "GRITO DE LIBERDADE" e "PEDIR SOCORRO" àqueles que nos podem AJUDAR!
O caminho será longo e demorado. Mas, mesmo assim CONTAMOS CONVOSCO.
NÃO SE ABORREÇAM,
LEIAM CADA ARTIGO ATÉ AO FIM, REAJAM e COLABOREM!
O Bloger,
Álvaro Zacarias Santos Monteiro.